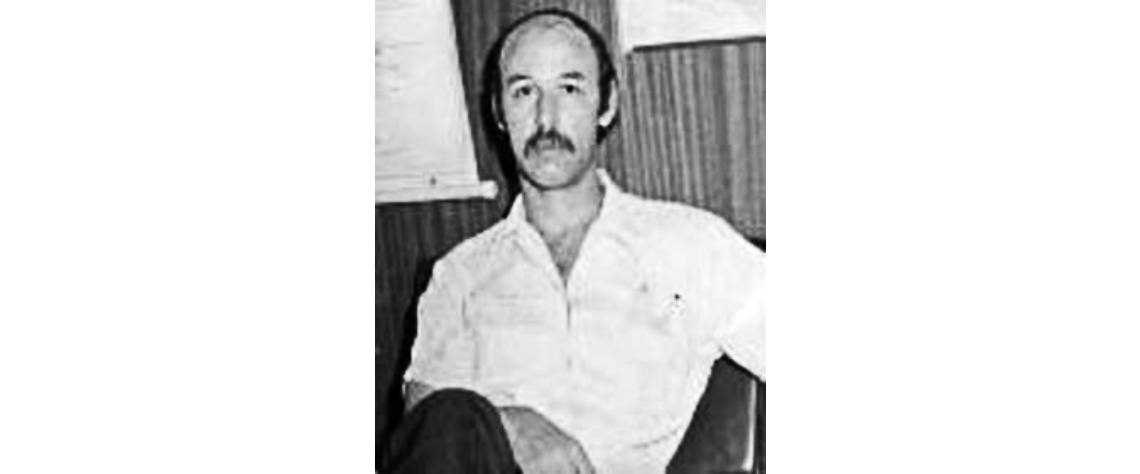Nando Menete
Sonecas remuneradas: barulhentas para uns, silenciosas para outros
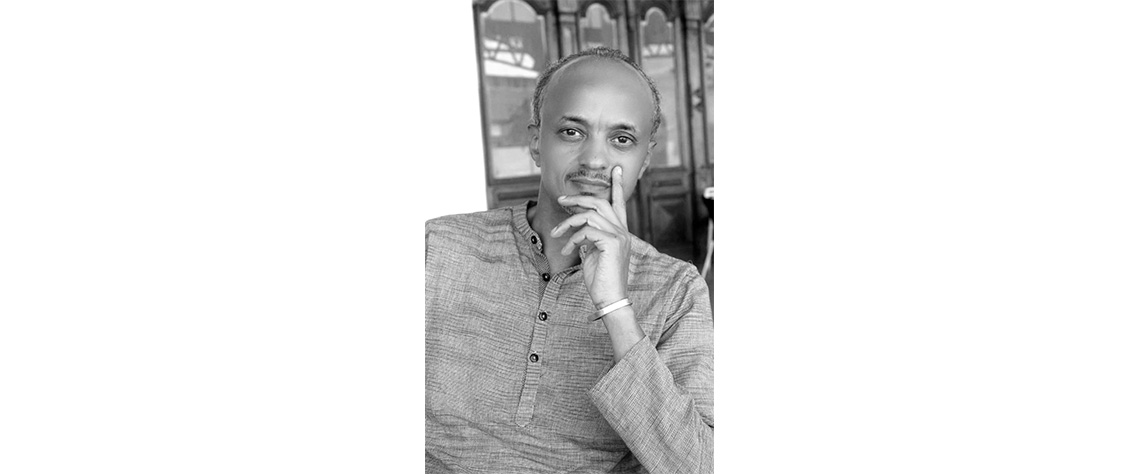
O recente bate-boca em torno do “saque” ao erário público para remunerar os custos da dignidade do estatuto do deputado (não necessariamente da pessoa beneficiária – um outro assunto) é recorrente. Para os do contra é “um valor altíssimo” e para os favoráveis é “um valor baixíssimo”. Os do contra não concordam que se pague tanto por dormidas no parlamento. Os favoráveis consideram que os ministros (que também dormem quando vão ao parlamento) recebem muito mais e ninguém toca no assunto. Por onde ficamos?
A partida é pacífico que se remunere dormidas em serviço de Estado (e na hora de expediente) desde que não se exagere na remuneração cujo cálculo – ao que parece - é inspirado no das Ajudas de Custo em viagens de trabalho: quanto mais dormidas/diárias fora , maior é o bolo do per diem (valor por dia). Agora, se a dormida remunerada é barulhenta (a dos deputados) ou silenciosa (a dos ministros) depende da manta que é usada. Nas sessões do Parlamento a manta (mais para lençol) é transparente e nas sessões do Conselho de Ministros ela é bem espessa, um autêntico edredom.
Dito isto – sobre quem dorme e recebe mais - talvez o foco do argumento da corrente dos favoráveis, onde pontificam deputados em exercício e fora dele, passasse por defender uma lei que obrigasse que as sessões do Conselho de Ministros fossem públicas a par das do Parlamento. Se assim for, temo que a corrente dos favoráveis tenha razão e uma das evidências são as elegantes dormidas dos membros do Conselho de Ministros nas idas ao Parlamento. Uma outra evidência é a do mobiliário. Baste que repare nos confortáveis assentos da nova sala do Conselho de Ministro que até fazem inveja aos da Business Class das melhores companhias aéreas. E quem já viajou nessa categoria que testemunhe a qualidade da soneca proporcionada. Aliás, os próprios ministros podem certificar a veracidade.
Para a corrente do contra, lembrar que a dormida parlamentar pode também significar um sinal de trabalho árduo. Pois, entendo, que quando o deputado chega às plenárias é o culminar de uma longa caminhada de trabalho nas comissões, visitas ao terreno e ao estrangeiro, trabalhos em grupo, elaboração de relatórios/discursos, entre outros afazeres. O mesmo para a dormida governamental. Contudo, também é válido que a dormida pode significar desorganização/falta de planificação. Que o digam os estudantes (e os docentes que confirmem) que fazem um trabalho de investigação de dois meses no dia anterior ao da sessão de entrega.
Enfim. É a democracia da Pérola do Índico no seu melhor. Avisos não faltaram e por aqui ficamos com um (aviso) deles, e prévio, dado, na altura da introdução do multipartidarismo (anos 90), por Joaquim Chissano, então Presidente de Moçambique. O aviso de Chissano- direccionado ao Ocidente (salvo erro à Margaret Thatcher, a Ex-Chefe do Governo do Reino Unido) – alertava para o facto da democracia ser um sistema extremamente oneroso. E desde então, nunca vi - só para fechar - um aviso a ser levado tão à letra e dolosamente quanto este. E isto é extremamente penoso.
Volte e não saia de casa
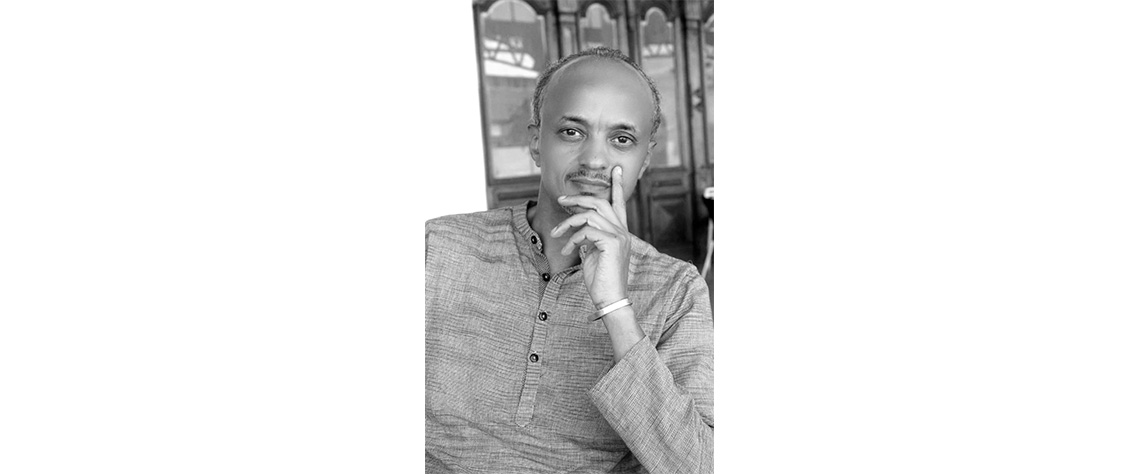
Tenho acompanhado pela comunicação social que Portugal, a antiga metrópole colonial de Moçambique, constitui um exemplo no que tange a tomada de medidas contra a propagação da COVID-19. O seu povo é elogiado por acatar as medidas do Estado de Emergência, sendo o “Fique em Casa” a mais notável. Palpito que o facto do fim da ditadura portuguesa ser ainda recente (pouco menos de 50 anos) produz, no imaginário dos portugueses, o medo da autoridade repressiva de um Estado ditador, operando assim como um dos factores dissuasores para o cumprimento generalizado das medidas.
Por arrasto, na Varanda do Índico, era suposto que os tempos da ditadura portuguesa – via colónia – e os que se seguiram logo após a independência, mais os tempos em curso da pandemia, fossem suficientes para duplicar o medo de quem queira sair de casa. Nem tanto. Alguns dirão “Porque sair de casa ainda não é literalmente proibido”. Será? E no caso de barracas (aglomerados, notadamente, de venda e consumo de álcool), cuja abertura é proibida, o seu encerramento é literalmente observado?
Há uma semana do fim do Estado de Emergência (30 dias), igualmente decretado por força da COVID-19, quer me parecer que para quem cumpre com a medida (e fica em casa) e para quem abre ou encerra a sua barraca - ou outro tipo de estabelecimento similar enquadrado na mesma proibição – o medo da repressão da autoridade, incluindo a extorsão e o excesso de zelo, está subjacente na decisão. Aliás, ciente desse facto, quem abre ou finge que fecha a sua barraca e os clientes criam e articulam condições alternativas para que a provisão e o acesso aos serviços prestados ocorram de forma oculta.
Procurei perceber as circunstâncias que justificam o risco. Um dos argumentos, e o predominante, prende-se com a imprescindível renda de sobrevivência de quem vive do negócio da barraca. Mas este argumento não cola para quem vai à barraca gastar a sua renda e se expor à pandemia. A menos que quem assim procede ainda não tenha voltado à casa desde o dia 31 de Março, data anterior ao da entrada em vigor do Estado de Emergência. Neste caso, e numa eventual prorrogação do Estado de Emergência, proponho que se adicione o "Volte e Não Saia de Casa" nas campanhas de sensibilização para a contenção da COVID-19.
Tempos de crise, tempos do padeiro
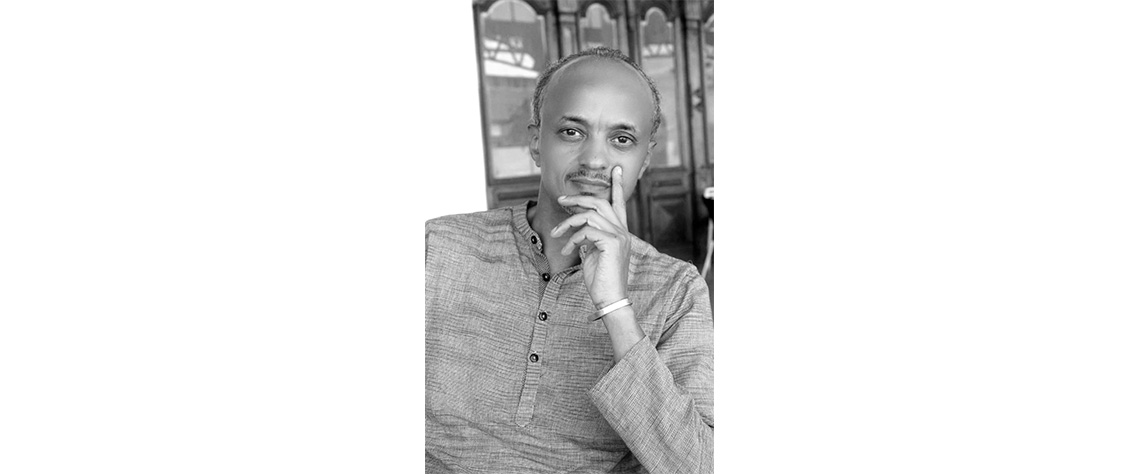
Por estes dias tenho ido objectivamente à padaria (e não sob pretexto) e acredito que em menos de um mês fui mais vezes à padaria do que em um ano no passado. Falo de um passado recente, pois do mais recuado, fui um assíduo nas idas à padaria. E ontem, enquanto cumpria a única fila para a compra do pão, veio-me à memória os tempos (e de crise) das bichas/filas da padaria, marcadamente nos anos oitenta. Dessas bichas, guardo um e outro episódio do poder do padeiro em tempos de crise.
Um dos episódios foi numa padaria próxima de casa. Havia uma bicha (curta) de pão para cooperantes (trabalhadores estrangeiros, grosso modo de raça branca) e uma outra (bem cumprida) para moçambicanos. Nesta fila, uma e outra vez, não me deixavam ficar, alegando que a minha era a outra: a dos cooperantes/brancos. Às zangas de criança lá ia à fila indicada, formada na sua maioria por russos e outro pessoal do leste. O padeiro, na hora da compra do pão, questionava-me: “Desde quando mulato é cooperante/branco?”. E assim - voltar com o pão para a casa - dependia do padeiro do dia: este é quem decidia se eu era cooperante/branco (estrangeiro) ou moçambicano.
O outro episódio prende-se com um detalhe: algumas das beldades que circulavam com o saco de pão – já recheado – não eram vistas na padaria. Mais tarde, percebi a razão do fenómeno quando um dos padeiros arrendou uma dependência (anexo) próxima da padaria, respondendo, deduzo, a duas exigências: uma de trabalho e outra de ordem feminina. A de trabalho, por conta dos turnos, sobretudo o nocturno. A feminina, era justificada pelo entra e sai de beldades de tirar o fôlego a qualquer outro profissional e até de áreas tidas de prestígio. Sobre isto, já diz um amigo próximo: “Em tempos de crise o padeiro é uma profissão de poder e prestígio e até superior às tradicionais ”.
Voltando à fila de pão de ontem: na hora do meu atendimento o padeiro demorou um pouco mais do que o habitual e foi atendendo outros clientes. Por coincidência foram duas beldades da terra e um senhor de raça branca que me pareceu estrangeiro. E pouco antes que eu recorresse à alguma forma de protesto, o padeiro pediu-me imensas desculpas, pois ainda aguardava por dinheiro trocado. Por algum tempo, temi que ele não me fosse vender o pão. Em tempos da pandemia COVID-19, e da crise acoplada, tudo pode voltar (a acontecer) e o poder do padeiro, não seria, de certeza, uma excepção.
O passe não é mal feito, é mal recebido
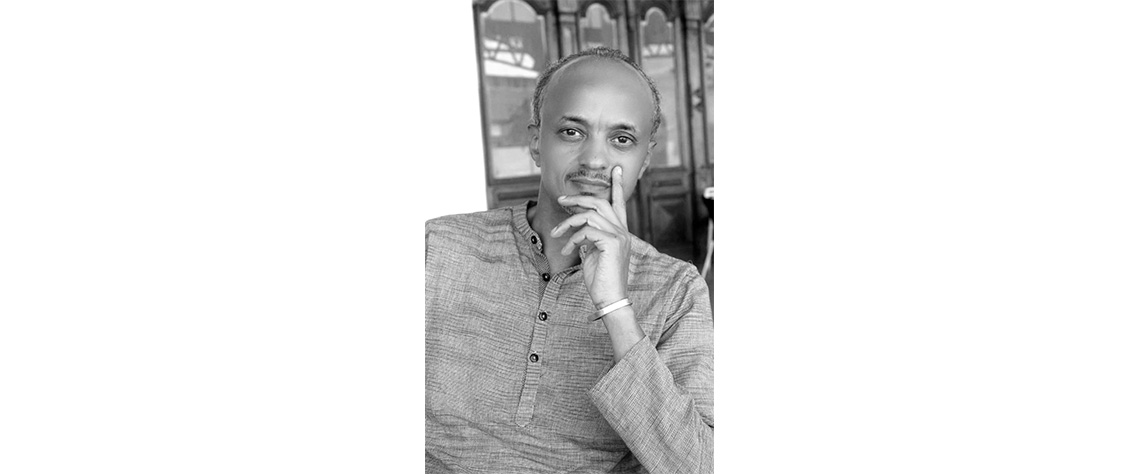
A frase do título é atribuída a Pelé, antigo e renomado futebolista brasileiro e mundial. Faz tempo que a tomei de empréstimo para olhar a política. A mesma filosofia para uma outra frase e pertencente ao ex-Presidente americano, George Bush (filho) que a transcrevo de memória: “Um dos maiores fascínios como presidente foi a tomada de decisões e para tal, dos meus assessores, procurava saber se a decisão era legal e se era ética”. E eu acrescentaria, na assessoria, se a decisão seria aplicável, obviamente, com o devido contexto observado. E por falar em contexto, referir que estas frases levam-me ao avança e recua no que toca às decisões sobre as medidas do Estado de Emergência em Moçambique.
Por outras palavras, em miúdos, a combinação da jogada de Pelé e Bush resulta que a bola é a decisão (política), o passe é a comunicação da decisão e a recepção do passe, a sua aplicação. E nessa linha, penso que já se foram os tempos em que a qualidade da liderança mundial marcava a diferença. Os tempos em que - tal como como Pelé, no trato da bola, espalhava magia por todo o campo até ao golo – os líderes tomavam decisões depois do devido enquadramento (legal), ajustamento (ético) e garantias (aplicabilidade) de sucesso (resultados/golo). Em regra: a qualidade iniciava na partida, contagiava o caminho e alojava na chegada. Porém, a excepção não é descartada.
Em contramão, a actual geração de líderes não possui a necessária habilidade para enfrentar os problemas e os desafios que se impõem de momento. E o resultado disso – quanto ao processo de tomada de decisão, sua comunicação e a respectiva aplicação - é bem visível no estado de incerteza em que se encontra a humanidade, sobretudo com a acção da COVID-19. O mesmo para o futebol: Já não se encontra um “10” que se compare aos níveis da performance do Pelé.
Entre portas, na Pérola do Índico, um dos indicadores da deterioração da qualidade de liderança foi o recente decreto/regulamento de medidas atinentes ao Estado de Emergência (EM), que mal fora aprovado e entrara em vigor foi logo alterado. Aliás, sobre o EM, já alguém, por coincidência também EM (Elísio Macamo, académico) escrevera da trapalhada linguística na respectiva justificativa/preâmbulo no texto da lei/decreto presidencial.
Contudo, nem tudo está perdido. Vi excertos de uma entrevista televisiva do Ministro da Saúde e pareceu-me com pleno domínio da comunicação. O mesmo para a da Justiça e o vice, passando pelo pessoal da saúde que presta informes regulares sobre o estágio da pandemia em Moçambique. Entretanto, embora haja sinais de uma certa qualidade de passe/comunicação, subsiste um défice em relação a qualidade da bola/decisão que é passada, deixando dúvidas e a ponto de dificultar/atrapalhar a recepção/aplicação da bola/decisão pelos destinatários. A menos que se confie que os destinatários, quiçá de tão exímios, façam a sua parte/diferença.
Neste contexto, ainda que sem uma adequada bola (decisão/medida), mas com um bom passe (comunicação) e com uma notável ajuda dos destinatários (aplicação) é possível que o país faça bonito nos resultados, sobretudo os do combate à COVID-19. Aliás, Pelé não costurava bolas, mas fazia passes de extrema qualidade e também os recebia com a mesma ou com uma outra, distinta e superior, qualidade.
Corta Mabjaia
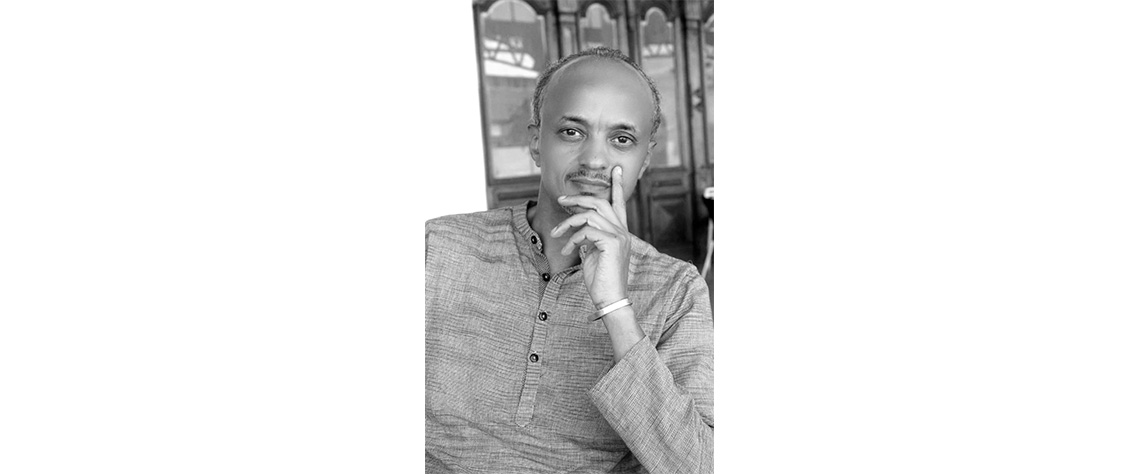
De três ou mais amigos recebi - no meu WhatsApp - a comunicação do falecimento de Elias Mabjaia (1954-2020), simplesmente Mabjaia ou Capitão Mabjaia, o temível defesa central locomotiva (Ferroviário de Maputo) dos anos oitenta, em particular. Retribui a uma das mensagens com a seguinte: “…aí vai…atenção…o remat…CORTA Mabjaia!”. De certeza que este excerto lembra um relato dos jogos de futebol das tardes de domingo na Machava (Estádio) e que até podia ter sido extraído do arquivo da Rádio Moçambique.
Essas tardes de domingo quer na Machava quer em casa, tinham o sabor dos cortes de Mabjaia e, alguns deles, na leva, o adversário. Nesta matéria - fica a bola ou ambos - a dupla com o Zabo, outro e saudoso central locomotiva - não deixava os adversários sossegados. Fora os cortes, o potente remate na marcação de livres, e à boa distância, era também a sua marca. E um dos remates, em 1981, ainda roça-me no ouvido – então infantil - o som de golo da gritaria do relatador. Foi o golo de empate (1-1), nos últimos minutos do jogo contra o Têxtil de Punguè, numa das tardes (e triste) de domingo e desta vez, no caldeirão do Chiveve, cidade Beira.
Desse jogo, a memória de que o Ferroviário devia ter ganho para assegurar o título de campeão, mas o mesmo acabou ficando com o Têxtil de Punguè. Entretanto, no ano seguinte, Mabjaia e companhia, treinados ainda por Mário Coluna, uma lenda mundial do futebol, levaram o título – o primeiro na história locomotiva do período pós-independência - para a sede do clube, na baixa da cidade de Maputo, enchendo de júbilo os seus adeptos, e destes, inclui o autor destas linhas.
Há poucos meses, vi o Mabjaia à porta (e saída em seguida) de uma unidade hoteleira e com ares de alguma aflição. Ainda sem entender o que se passara, aproximei-me do porteiro - bem jovem para a função – e perguntei-o se conhecia o senhor que saíra à pouco e o que ele queria. A resposta foi a de que não o conhecia e de que ele pedira para usar os sanitários. Em seguida, perguntei-o se conhecia o jogador Piqué do Barcelona. De forma categórica, não só, respondeu de que sim como também enumerou uma lista de outros bons e famosos defesas de gabarito mundial. No final, disse-lhe: “Acabas de impedir a entrada de um dos jogadores dessa lista, ainda que não o tenhas citado, porque, acredito, não o conheces”. E porque entendera que ele não engolira, recomendei-lhe que perguntasse ao “barman” – bem mais velho - quem era o Capitão Mabjaia.
Por coincidência, nessa mesma unidade hoteleira, vira pela última vez e pouco antes da sua morte, uma outra lenda locomotiva e nacional. Falo de Joaquim João, o também capitão e conhecido por JJ, que fora, por alguns anos, a par de Mabjaia, a dupla de centrais da defesa locomotiva. Entrelinhas e desses avistamentos, o recado: rezo para que não volte a ver ou a cruzar, na unidade hoteleira que me refiro, com nenhuma outra velha-glória do nosso futebol ou de outra modalidade. E caso aconteça, nesse dia, serei o jovem porteiro.
Com a partida de Mabjaia, a História desportiva moçambicana fica a dever - e ainda em dívida com Zabo, Joaquim João, Mário Coluna e outros tantos e grandes desportistas nacionais - as páginas doiradas do seu livro. Às famílias Mabjaia e Locomotiva, as sinceras e sentidas condolências. Saravá, Capitão Mabjaia!
Moçambola, Unidade Nacional e a COVID-19
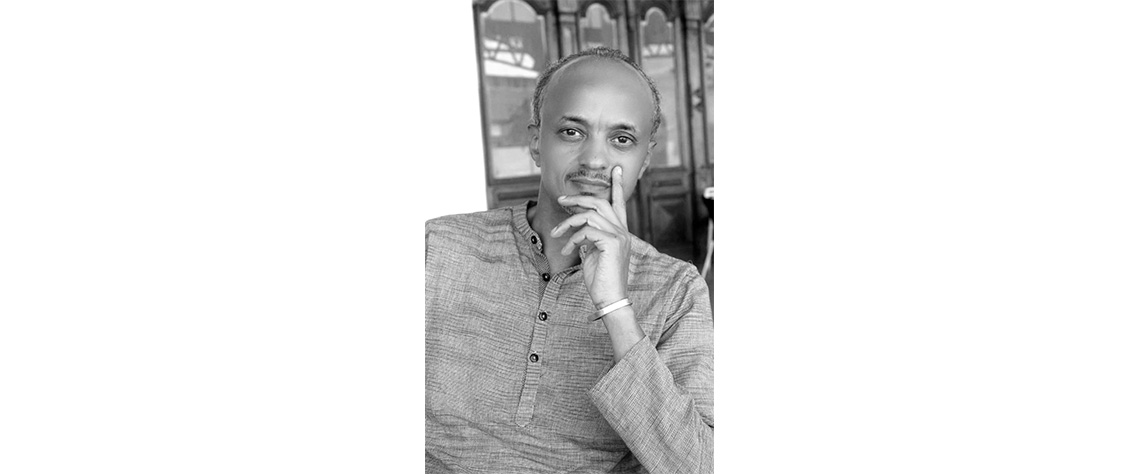
O debate sobre a “Unidade Nacional” em Moçambique fora inacabado, e talvez por isso, é um assunto espinhoso, pois agita muitas sensibilidades e algumas delas altamente inflamáveis. À distância, e sem que vá à fundo, entendo a “Unidade Nacional” como o sentimento de pertença à uma nacionalidade e para o caso, a moçambicana. A realização do campeonato nacional de futebol, vulgo “Moçambola” (sobretudo nos moldes clássicos de todos contra todos), é apontado – e até nos círculos do poder - como uma das vias da consolidação da “Unidade Nacional” e desse entendimento são mobilizados fundos e mundos para assegurar a sua periódica concretização anual.
Confesso que nunca engoli que o “Moçambola” fosse (merecesse) assim tanto. E porque gosto de Basquetebol (até podia ser uma outra modalidade), sempre exigi o mesmo tratamento. A resposta é de que este desporto não movimenta massas (muita gente). Aliás, nenhuma outra modalidade desportiva no país movimenta massas como o futebol e talvez por isso, a justificação do reiterado carinho do Estado ao “Moçambola” e em detrimento das outras actividades desportivas que movimentam menos massa e assim, e já agora, com menor ou nulo potencial para contribuírem para a “Unidade Nacional”.
Neste contexto e com o impacto da pandemia COVID-19, a não realização do “Moçambola” não será uma ameaça para a “Unidade Nacional”? Por força ou não da COVID-19 a sua não realização não constitui nenhuma ameaça, pois julgo que o “Moçambola” não é e nunca foi um factor de “Unidade Nacional”. Para mim, e para citar um de tantos de índole desportivo, um exemplo de factor de unidade nacional – o sentimento de pertença a uma nacionalidade (moçambicana) – foi o gerado pela Lurdes Mutola quando conquistou a medalha olímpica de atletismo, que é, a propósito, uma modalidade que não movimenta massas no país.
Como ameaça, a COVID-19 é apenas para o “Moçambola” e não para a “Unidade Nacional”, pois, fora o uso quotidiano da máscara e outros, a COVID-19 deixará como legado da sua passagem o facto de ter desmascarado a utopia de que o “Moçambola” é um factor de “Unidade Nacional” e daí a luz verde para o assalto aos parcos recursos das empresas e do Estado. Ademais, e a ser uma ameaça, provavelmente fosse contra um outro tipo de unidade e para o caso em questão (futebol), a passional.
E a fechar, nem tanto a ver, e pelo que se consta dos meandros da bola e com uma certa naturalidade e tradição, não fica bem que o Estado insista em drenar recursos em algo conotado, entre outros, com a alta corrupção, tráfico de influências, sonegação de impostos, falsificação de documentos, lavajem de dinheiro, pancadaria, racismo e o tribalismo. Isto sim: talvez atente contra a “Unidade Nacional” e como prevenção, rezo que não falte muita água e sabão, um outro legado da COVID-19 para o “Moçambola” e não só.
O país da última hora
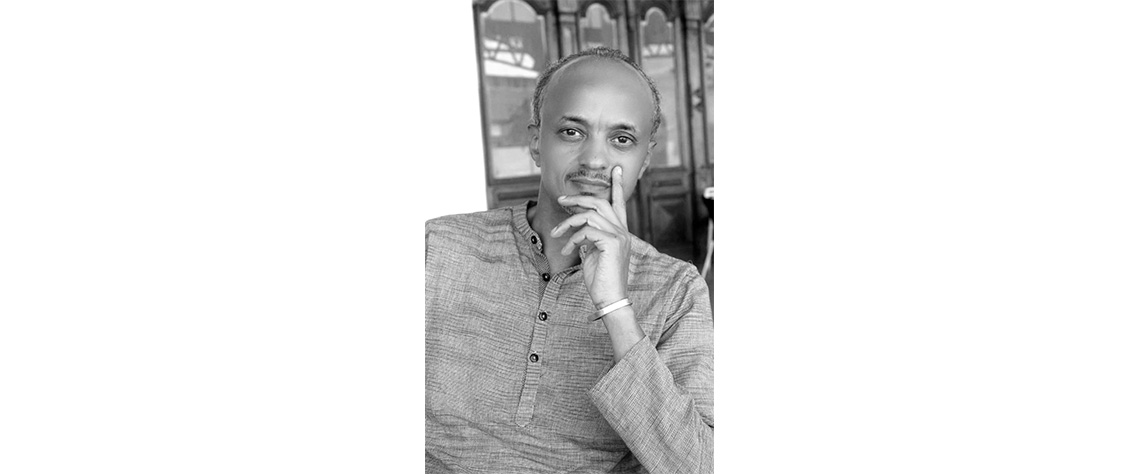
O jornalista Marcelo Mosse escreveu, recentemente, algo parecido com a falta de prontidão e desorganização na resposta à emergência que a COVID-19 impõe ao país. Será que era expectável o contrário? Infelizmente, e dói ter que afirmar, uma das marcas “Made in Mozambique” e parte do ADN da Pérola do Índico é a “Última Hora”. Ou seja: deixar tudo para o fim.
E nessa linha, e à hora da refeição, um moçambicano que se preze, deixa o melhor pedaço de carne para o fim. Na escola, o trabalho de investigação é entregue no último dia e até em casos de prorrogação do prazo. Na vida adulta não se difere tanto, conforme os casos - a título de exemplo - da ida ao médico e ao posto de recenseamento eleitoral e ainda no momento de pagamentos às finanças e do manifesto automóvel. Contudo, uma excepção e de ouro: o pagamento de “comissões” (os famosos 10%) que é - sem prejuízo para o infractor - efectuado de forma antecipada.
Neste diapasão, e deveras preocupante, temo, em relação à pandemia COVID-19, que se esteja a confiar em estratégias que fazem também parte do ADN da Pérola do Índico. Uma delas e dos idos tempos infanto-juvenil é o jogo “às escondidas” em que o último escondido, desde que não tivesse sido apanhado, goza de plenos poderes para salvar os apanhados assim que tocasse o ponto da contagem de partida para o esconderijo. A outra estratégia, e das lides do futebol, é o recurso a uma “arma secreta”, que é um jogador que entra nos derradeiros momentos do jogo como a solução final para a vitória.
Dito isto, seria expectável o contrário? Ou não estarão os acontecimentos a desenrolar dentro do quadro lógico do Modus Operandi da “Última Hora” e num cenário - para agravar - em que se desconhece o último dia da acção da fulminante COVID-19. É caso para dizer que os contornos patológicos da dupla pandemia, a COVID-19 e a “Última Hora”, constituam matéria de estudo para a nossa academia, a menos que esta seja uma outra e circunscrita pandemia.
Tempos de reconciliação em guerra
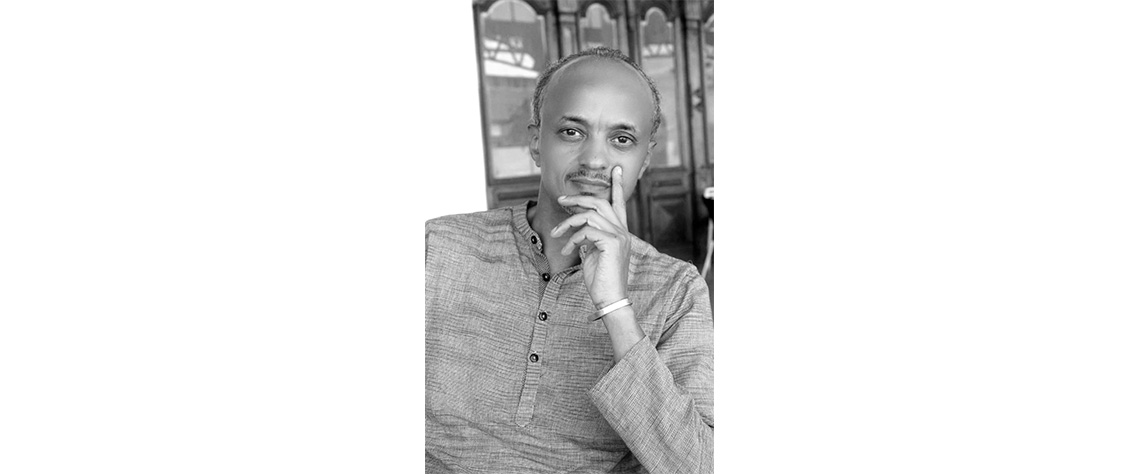
Não restam dúvidas (e nem dívidas) de que a sensação dos dias que correm, e dos que se avizinham, é de tempos de reconciliação em plena guerra. Uma guerra (mundial) que é movida pela pandemia COVID-19, cujo combate (na verdade uma fuga para o exílio) passa por ficar em casa, local, até bem pouco tempo, desconhecido para a maioria de nós, incluindo o leitor. Imagino (e não se assuste) que ainda não se tenha dado conta de que não passas de um mísero (e abastecido/luxuoso) refugiado de guerra, deitado em casa, à sombra do seu sofá.
Em casa - e na qualidade de um deslocado/refugiado - começa o primeiro acto de reconciliação. O segundo é o de reconciliação com o ambiente e o terceiro com a cidade. Sobre o primeiro acto, nas redes sociais, pululam exemplos, e alguns caricatos, como o do marido que se admira ao certificar de que a esposa, afinal, é muito boa pessoa (uma homenagem à simpatia). Em relação ao segundo acto, a imprensa reporta a melhoria da qualidade do ar que se respira, por conta do impacto da redução significativa do uso de meios de transportes motorizados. E do terceiro acto, a reconciliação com a cidade (de Maputo), é visível, por estes dias e com a ajuda do seu edil, que ela exibe, embora com alguma tristeza e incertezas à mistura, boa parte do esplendor da sua visão: "Cidade bela, limpa, segura, empreendedora e próspera".
À janela do seu exílio, conjecturo que o leitor, aliás refugiado, esteja às voltas por não poder usufruir em pleno os resultados da reconciliação. Nem o da reconciliação com a família, pois a ameaça mortífera da COVID-19 não o deixa sossegado, apertando o cerco quer pelos meios de comunicação social quer, e à espreita, por qualquer falha do dispositivo de segurança por si montado.
E por estar exilado em casa, contra a sua vontade, espero, a fechar, que não se aproveite do facto e solicite, à boa maneira moçambicana, o estatuto de refugiado para poder reivindicar fundos – em forma de subsídio ou de outra modalidade – que estejam, porventura, na carteira de projectos dos 700 milhões de dólares americanos que as autoridades do país pediram aos doadores. Do pedido e às pressas, mesmo a fechar, depreende-se que a política de mão estendida é imune ao COVID-19, mas, de certeza, uma outra e necessária reconciliação - para reflexão - em tempos de guerra.
COVID-19: “Um, dois, três, macaquinho chinês” ou “Lá vai o alho”
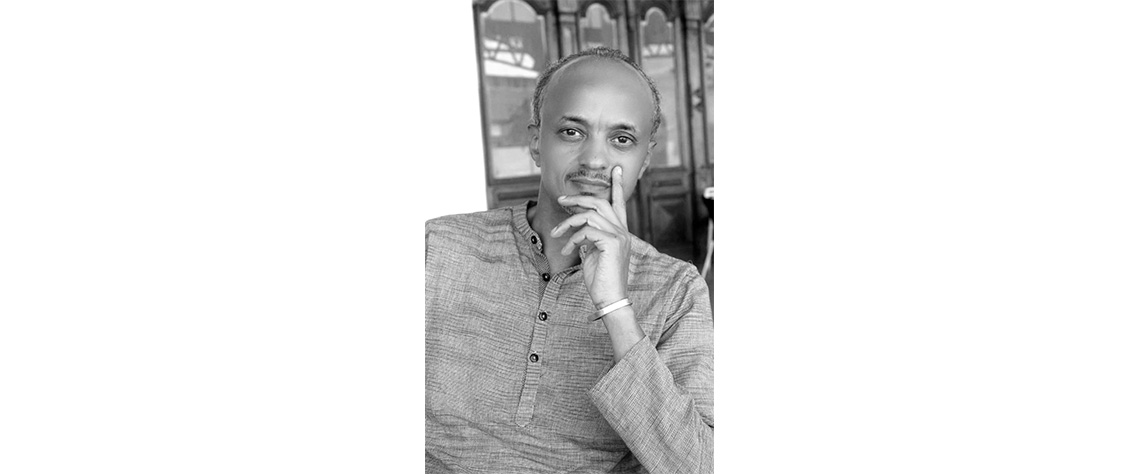
O título é a propósito da “Carta aberta ao Senhor COVID-19” que a escrevi na semana passada. Pelos vistos, o Sr. COVID-19, o Vidinho, como o trato na carta, é igualzinho a uma riquíssima característica da Pérola do Índico, quiçá a do leitor: detém o péssimo hábito de não ouvir instruções ou o conselho de outros. E com o Vidinho entre nós, sem convite, o que está à mão, como prevenção - fora a lavagem - é permanecer imóvel no seu imóvel. Algo que não se está a levar a sério por estas bandas da varanda do Índico.
E por falar em banda, vêem-me à memória a malta de infância da zona e das brincadeiras ou jogos desse tempo. E uma vez que o Vidinho é natural da China, quis a coincidência que a prevenção – ficar no seu imóvel – lembrasse uma das brincadeiras de infância cuja origem é chinesa, que o obriga a ficar imóvel. Estou a falar do jogo “um, dois, três, macaquinho chinês”. Quem não se lembre – e pelo que se assisti, está todo o mundo com uma catedrática amnésia - que “google”.
Contudo, em respeito a urgência sanitária nacional e mundial, vai - à título de puxão de orelha - um trecho dos benefícios desse jogo infantil: “(O jogo) trabalha de forma divertida o conceito de respeitar as regras e da importância de as cumprir”. Certamente, uma boa e recomendável brincadeira didáctica para os tempos difíceis que correm e que se seguem
.
Em caso de movimento contrário, não sobrará uma outra alternativa se não o outro jogo infantil - cuja origem possa ser portuguesa, fincando o pé no tom - de nome “Lá vai o alho”. Neste jogo, um grupo de meninos - denominados burros – fica em fila e curvados com a cabeça em direcção a uma parede ou árvore. O outro grupo, e um de cada vez, em corrida, pulam e aterram, o mais distante possível, nas costas de um dos curvados. A corrida e o salto são acompanhados pelo grito de guerra “Lá vai o alho”. E o que acontece no desenrolar do jogo?
Depois do salto de todos, o grupo curvado (o país) terá que suportar – às guerrinhas como na tourada - o peso do outro grupo, o de cima ( o Vidinho). Por um lado, o país a tentar sacudir o Vidinho e este, por outro lado, envidando esforços para se manter firme. A briga termina depois que se conte até 10, na verdade, 10 fatais segundos. Perde o jogo quem não cumpre as regras ou quando a equipe curvada, o país/os burros, não consiga aguentar a equipa de cima, os que (as)saltam/o Vidinho, e vice-versa.
A minha memória (e trágica), sobre as vezes em que tomei parte do “Lá vai o alho”, assevera que os curvados nem sempre respeitam as regras e muito menos aguentam o peso dos que saltam e se acomodam nas suas costas. Das raras vezes em que foi o contrário - aguentar o peso - os curvados mal se aguentavam para a troca de posição. E assim, fica o recado: Fique em casa ou “Lá vai o Vidinho”!
Carta Aberta ao Senhor COVID-19
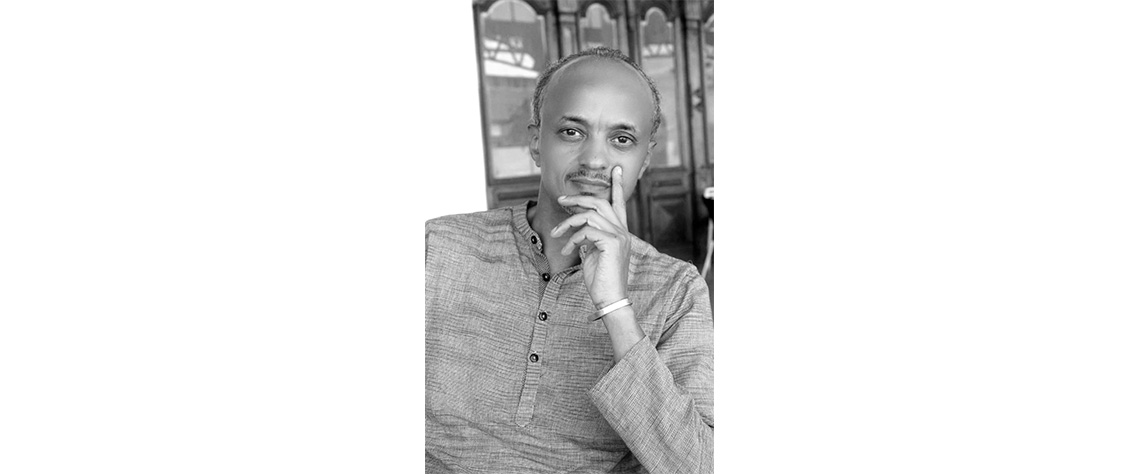
P(r)ezado Vidinho,
Antes demais as minhas sinceras desculpas pela intimidade e ousadia em aproximá-lo. Embora não me conheças, eu, infelizmente, conheço-te. Tenho acompanhado as tuas peripécias mortíferas pelo mundo fora. Aqui fala Moçambique. Um dos países que ainda não localizaste. Acredito que não seja nenhuma avaria do seu aparelho de localização ou que eu não conste no seu mapa. Ou ainda, porque ando em quarentena – nos anexos da humanidade - desde o meu nascimento. Estou consciente que andas pelo pátio do quintal. E sei de que tarde ou cedo estarei na tua tela. Aliás, quem sabe, enquanto escrevo estas linhas, a porta bata e me abatas. Mas antes, oiça o que tenho para dizer-te, seu patife! (não me leva a mal)
Olha Vidinho,
Espero que aterres em missão de paz. Uma missão não igual à anteriores que já desfrutei no passado. Desta vez, que seja mesmo de paz, efectiva e definitiva. Tenho esperança que assim seja, pois das tuas andanças pelo mundo deu para notar que não lhe falta seriedade – embora fulminosa – em trabalho. Ainda espero que não confundas um país hospitaleiro com um país hospedeiro. Sobretudo, que não uses e abuses da minha hospitalidade – como tantos o fizeram e o fazem - para hostilizar-me e, no final, deixar-me mais hospitalizado do que me encontro desde a tenra idade.
Vidinho,
A tosse, as febres, as dores musculares e de cabeça que anunciam a tua chegada não me são estranhas. Elas são minhas companheiras há mais de 40 anos. Destes sintomas, temo que a tosse, curiosamente a mesma tosse do SOS da minha sobrevivência, que de tão audível e com stereo, denuncie o meu endereço, um local que o mundo relegara-me e com alguma responsabilidade minha pelo meio e desde o início.
Vidinho,
De tanto hospitalizado, desenvolvi alguma resiliência ao conselho alheio e ao que se passa fora dos meus aposentos. Tenho uma forte e repelente tendência em não perceber os perigos que me rodeiam e assim agir com antecedência. Talvez padeça do Síndroma de Estocolmo: amo os que me sugam e detonam.
Vidinho,
A minha vidinha, nestes quarenta e poucos anos de quarentena, depende do pessoal do pátio e da casa grande. Boa parte dos últimos, não gostaram de certas coisitas que fiz quando deixaram-me sair para uns raios de sol no pátio. Desde então, de joelho, passei a viver deitado. Agora, e a partir dos quadradinhos do leito hospitalar, apenas vejo uma linha longínqua da esperança dos números do norte. Até lá, e nestas condições – e por minha grande culpa - não tenho peito para enfrentá-lo, logo que bateres a minha porta. Pior agora, em que o pátio e a casa grande não vão bem por conta da sua visita. Imagina a mesma visita a quem depende deles? Não venhas, “Please”!
P(r)ezado Vidinho
A terminar - adoentado e deitado nesta vasta cama do índico - encarecidamente, aqui e em todo o lado: “Peço Distras!”. Caso contrário, espero que da tua visita não tenham que inscrever na minha lápide: “Moçambique (1975-2020). Deletado por COVID-19”
Pioras para ti, seu patife!
com sinceridade
Pérola do Índico