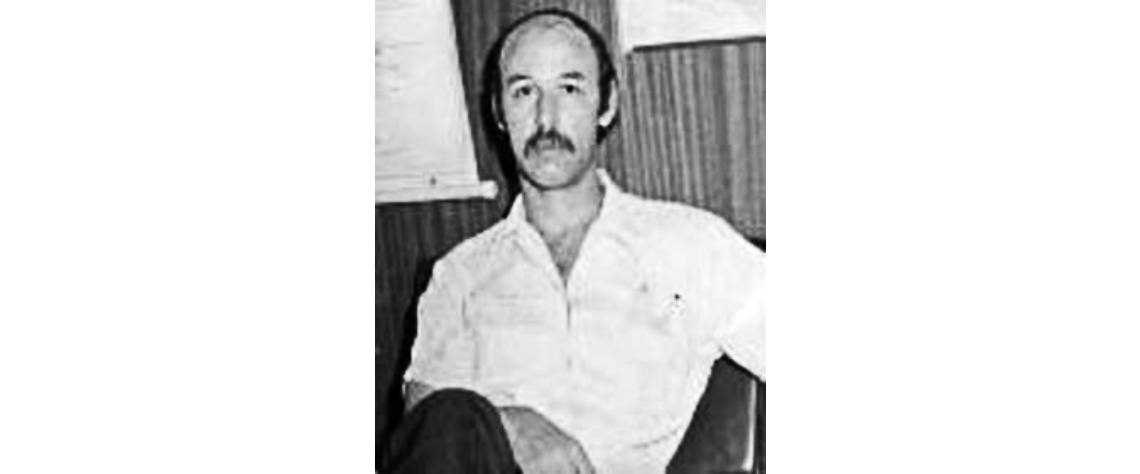Blog
Os Principais Desafios do Jornalismo em Moçambique diante da Crise Ambiental, escreve Ericino de Salema

Frelimo, não faça mais isso. Não gostei!
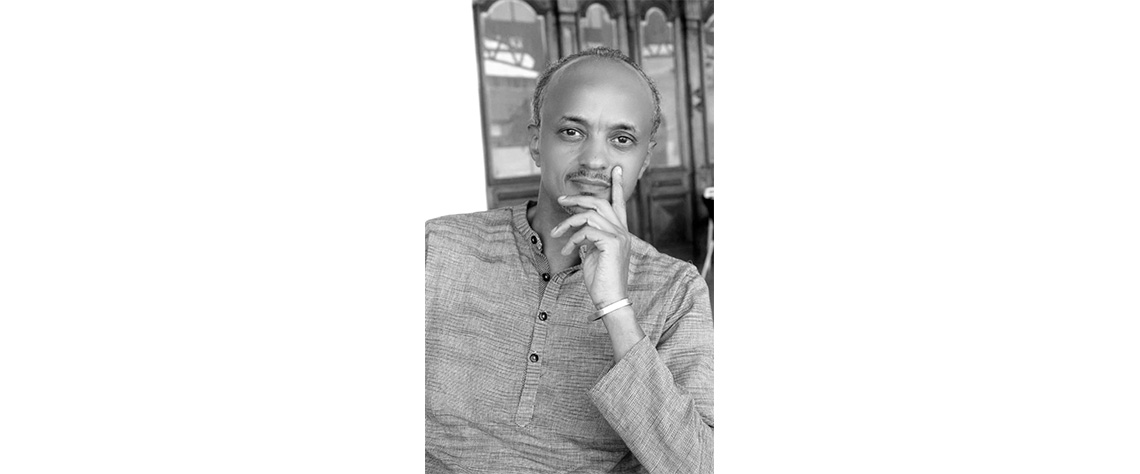
“Paulo, não faça mais isso. Não gostei!” Fora mais ou menos nestes termos que uma cota (avó) dirigiu a fala ao músico português Paulo Gonzo no final de um seu espectáculo. Ela reclamava o facto de o cantor ter deixado que o público cantasse a solo as suas músicas, sobretudo as que ela mais adorava e que a fizeram ir ao espetáculo.
Este episódio ouvi contado pelo próprio Paulo Gonzo numa entrevista, tendo acrescentado que no final da fala a cota ainda disse que "Eu paguei o bilhete para te ouvir cantar". Desde então que Paulo Gonzo não deixa que o público o substitua.
Conto isto a propósito do enredo para a escolha do candidato do partido Frelimo a Presidente da República em que a Frelimo reedita Paulo Gonzo ao deixar que a sociedade assumisse a vanguarda do debate para a escolha do seu candidato.
Diante da semelhança e do que será o desfecho da sessão extraordinária do Comité Central da Frelimo para a eleição do seu candidato presidencial para 9 de Outubro, expecto que a cota, numa versão moçambicana, procure o partido Frelimo, ainda no camarim, e diga: “Frelimo, não faça mais isso. Não gostei!”
PS: Nos termos da alínea l) do nr 3 do artigo 71 dos Estatutos do Partido Frelimo cabe ao Comité Central “Apreciar e aprovar as propostas da Comissão Politica referentes as candidaturas da FRELIMO ou por ele apoiadas a Presidente da República”. Nos mesmos Estatutos, compulsando as competências da Comissão Política (artigo 76) com os olhos de São Tomé, nada consta, expressis verbis, de que a esta recai a competência de elencar e endossar tais propostas. Salvo melhor entendimento, é um detalhe, com potencial para gerar emoções, que já merecia que razão fosse chamada para intervir.
Portugal e o 25 de Abril de 1974

“Ainda hoje, muitos não sabem que foi um livro que deu origem ao acontecimento que mudou o País em 1974 e que bastou ao mais prestigiado General Português de então apenas uma frase-choque para derrubar em poucos dias o Regime (a vitória exclusivamente militar é inviável). Essa declaração do General António de Spínola, no seu livro (Portugal e o Futuro), sobre a guerra no Ultramar, arrasou por completo a credibilidade do Governo de Marcelo Caetano e provocou um autêntico terramoto no País”
Mas coloca-se a questão: esse livro foi muito lido? Se teve algum impacto na sociedade Portuguesa?
A resposta a essa pergunta é dada por Leonidio Paulo Ferreira, do Diário do Noticias de Portugal, Lisboa.
“Sim, muito lido e com grande impacto. Spínola não era um oposicionista nesta altura. Era uma figura do regime, que tinha comandado as forças armadas na Guiné e que ocupava o cargo de Vice-Chefe do Estado Maior das Forças Armadas. Por isso, o livro representou a admissão por parte de uma figura militar cimeira de que Portugal não conseguiria vencer as guerras militarmente e de que o futuro teria de passar necessariamente por uma solução política. É certo que Spínola não é a primeira pessoa a dizê-lo, mas isto dito e publicado, repito, por uma figura de destaque, funcionou como uma verdadeira pedrada no charco e teve grande acolhimento em meios políticos e militares, em círculos diplomáticos e empresariais, na sociedade em geral.”
In Leonídio Paulo Ferreira, Diário do Noticias
Em Moçambique e de uma forma geral, fala-se muito pouco sobre as reais causas do 25 de Abril de 1974, provavelmente, para não ofuscar a Luta de Libertação Nacional, desencadeada pela FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique, contudo, julgo eu que o não aprofundamento das causas do 25 de Abril de 1974, simplesmente, nos empobrece como nação, porque ficamos com um saber amputado.
Na recente passagem por Portugal, como é meu hábito, percorri algumas Livrarias de Lisboa, à procura de Literatura sobre o 25 de Abril. Recebi muitas recomendações, de amigos e até de alguns convivas de ocasião, mas em nenhum momento me falaram do Livro do General António de Spínola, com o título “Portugal e o Futuro”, lançado no dia 22 de Fevereiro de 1974. Também ninguém me falou da obra do João Ceu e Silva, com o título “O General que começou o 25 de Abril, dois meses antes dos capitães”, cuja 1ª edição aconteceu em Fevereiro de 2024.
Segundo o autor do Livro “O General que começou o 25 de Abril dois meses antes dos Capitães” João Ceu e Silva, com destaque no primeiro parágrafo desta reflexão, efectivamente, são muito poucas pessoas que relacionam o 25 de Abril de 1974, com a obra do General António de Spínola, com o título “Portugal e o Futuro” mesmo em Portugal, mas o mais relevante nesse livro é o reconhecimento do General António de Spínola de que “a vitória, exclusivamente militar, é inviável”. Portanto, isto, dito por um militar do nível do General, naturalmente, provoca um grande impacto na sociedade no geral e nos militares de baixa patência, por isso caberia aos capitães a materialização de um Golpe de Estado que deita abaixo o Estado Novo de Marcelo Caetano.
Se o Livro com o título “Portugal e o Futuro” teve um impacto tremendo no seio da sociedade Portuguesa, quer me parecer que as “Províncias Ultramarinas” se mantiveram indiferentes às correntes de então. Só assim se pode justificar a reacção dos portugueses residentes em Moçambique, em relação aos Acordos de Lusaka, assinados entre Portugal e a FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique.
Nos acordos de Lusaka, resultado das reuniões de 05 a 07 de Setembro de 1974, o Governo Português fez-se representar pelas seguintes figuras que assinaram o documento: Ernesto Augusto Melo Antunes (Ministro sem Pasta), Mário Soares, (Ministro dos Negócios Estrangeiros), António de Almeida Santos (Ministro de Coordenação Interterritorial), Victor M. Trigueira Crespos (Conselheiro do Estado), Antero Sobral (Secretário do Trabalho e Segurança Social do Governo da Província de Moçambique) Nuno Alexandre Lousada (Tenente Coronel de Infantaria), Vasco Fernando Leote de Almeida e Costa (Capitão Tenente da Armada) e Luís António de Moura Casanova Ferreira (Major de Infantaria). Por parte de Moçambique, rubricou Samora Moisés Machel, na qualidade de Presidente da FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique.
No texto do acordo, saliento os dois primeiros pontos que são:
“1- O Estado Português, tendo reconhecido o direito do Povo de Moçambique à Independência, aceita por acordo com a Frente de Libertação de Moçambique a transferência progressiva dos poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados.
- A Independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de Junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frente de Libertação de Moçambique.” Fim da citação.
As reacções de grupos radicais não se fizeram esperar, no entanto, contra a reacção dos colonos radicais de Lourenço Marques, houve uma reacção à altura de pretos pro-Frelimo, residentes na Cidade de Lourenço Marques (poucos) e muitos outros nos arredores da Cidade, com destaque para o popular Bairro da Mafalala. Aqui veja o que encontrei na internet sobre o assunto:
“Alguns membros do grupo Galo eram militantes clandestinos da FRELIMO desde a criação do movimento nacionalista em 1962. Outros eram soldados no Exército colonial português, alguns na reserva e outros ainda em serviço. Mas a grande maioria parece ter aderido a partir das várias células de esclarecimento e mobilização postas a funcionar pelos grupos pró‑FRELIMO logo após o 25 de Abril. A posição anti‑FRELIMO do sector colonial mais radical, integrando grupos extremistas e paramilitares, bem como do movimento Frente Independente de Convergência Ocidental – FICO (todos integrantes do MML), também teve um efeito na popularidade da FRELIMO entre a população africana de Lourenço Marques e arredores. Tudo leva a crer que a euforia da liberdade, a esperança do fim do regime colonial, a confrontação aberta entre os grupos contra e pró‑FRELIMO tenham reavivado a memória das humilhações coloniais entre a população africana de Lourenço Marques. É neste quadro que se pode situar a grande onda de violência que os africanos levaram a cabo entre 7 e 10 de Setembro e, mais tarde, a 21 de Outubro, em resposta à ainda mais brutal actuação dos grupos coloniais extremistas paramilitares. Mas a violência do 7 de Setembro foi, em geral, um efeito “natural” do fim de um regime colonial que sempre assentou na violência. Como sublinhou Frantz Fanon, a descolonização é sempre um fenómeno violento (2004: 35)”.
In Revista Críticas de Ciências Sociais nº 106 de 2015, Galo amanheceu em Lourenço Marques.
Por tudo isto, penso que vale a pena aprofundarmos o nosso conhecimento sobre o 25 de Abril de 1974 em Portugal. Na teoria, éramos mesmo País, simplesmente, nós estávamos no Ultramar. Os acontecimentos em Portugal, naturalmente, afectam-nos, como nos afectou o 25 de Abril de 1974 de forma positiva. O reconhecimento deste facto não coloca em causa o mérito da Luta de Libertação Nacional, antes pelo contrário, valoriza a nossa luta. Nós, africanos falantes do português, somos a causa do 25 de Abril, devemo-nos orgulhar disso.
Adelino Buque
Um centenário de música e emoções

O mês da folia, coincidência, chegou e, por arrasto, transportou consigo a celebração de uma das mais preciosas pétalas de Moisés Manjate. As risonhas 100 primaveras e o centenário de uma vida e, de outras dezenas de canções e milhares de emoções. Moisés, esse lendário e originário da família Manjate, com o vigor da sua musicalidade e a graciosidade do seu talento, recriou as geometrias da dança e dos compassos da Marrabenta, esse som urbano-rural que incorporou, sem reticências, as magias e os acordes do Xingombela, Zukuta e da Magica.
Velho Moisés, bem no estilo e no ritmo de quem procura a terra prometida, beijou o sol e o mundo, pela primeira vez, no longínquo ano de 1920. Sua terra natal, Mafalala-xilunguine, cidade que tem alterado de nomenclatura, ao longo das décadas, porém, não deixa de ser o viveiro privilegiado de músicos, artistas e escritores.
Desde cedo, como a grande parte dos músicos moçambicanos, não passou por nenhuma escola de música e, jamais, teve contacto com a partitura. A música nasce, naturalmente, nas veias e nos ouvidos dos executores. Talento puro. Bênção divina.
Decorriam os anos 50/53 e Moisés, nome bíblico, se agigantava no mundo musical. Conjunto Djambu se afirmava e criava seu espaço e pedaço. Tal como o mundo que se refazia dos efeitos da Grande Guerra, os artistas rebuscavam, na música e nas artes, o conforto para os espíritos e a paz para as suas almas. Foi momento cultural sublime e o esplendor de uma epopeia inquestionável.
Moisés Manjate cresceu e bebeu as vivências e vicissitudes de um tempo que, não sendo seu, foi de um passado que só ele sabe descrever. Um passado de pura exaltação e afirmação, um tempo de florescimento da consciência negra, da negação do que não era local e, sobretudo, de rebuscar a liberdade. Manjate não fugiu das sombras e sonhos do Craveirinha, do Samuel Dabula e da firmeza do centro associativo dos negros.
A Marrabenta estourava nos subúrbios da Mafalala, na então, Associação Beneficente Comoriana e no cabaré local, que corporizou o novo género musical e, fez dele um ritmo quente, miscigenado e arrombador. Os dançarinos e frequentadores do cabaré eram, regra geral, tidos como oriundos das Ilhas Comores. Os sons, igualmente, se recriaram na génese e na combinação do movimento migratório de Moçambique para África do Sul e vice-versa. Este foi um dos berços de ouro da nossa e nova musicalidade que, ao longo de décadas, nos orgulha e nos faz moçambicanos.
Moisés Manjate, conhecido por muitos, porém, já desconhecido por milhares, contribuiu, a seu tempo e espaço, para estilizar os ritmos e familiarizar uma nova proposta musical que navegava entre os submundos de tantos ritmos e sons. O grupo Djambu, e tantos outros, foi pilar desta corrente.
Velho Moisés Manjate, faz tempo, não frequenta palcos e nem se multiplica em entrevistas e aparições públicas. Não o faz fisicamente, porém, as letras e os hinos que ajudou a recriar continuam tão presentes e inconfundíveis nos nossos repertórios e imaginários musicais. Tão vivos e presentes, como a natureza e o tempo intermitente e irredutível. Marrabenta é essa obra tão identitária como libertadora, tão suave como fulminante, e a canção “Elisa wê gomara saia”, para citar apenas a mais cantada e recriada, do nosso património musical, elucida essa glória do tempo que insiste não passar.
Na celebração do seu centenário, parece proibido não resgatar o historial da marrabenta e fazer jus ao Mestre que, de forma exímia e majestosa, executou, com perfeição, os ritmos folclóricos que alegraram milhões de moçambicanos de diferentes gerações e raças.
A Marrabenta, mais que um ritmo, significou um movimento libertador e, um símbolo de afirmação e ideniedade. A Marrabenta perpassou a censura e à opressão, a tenacidade do colonial-fascismo e a tenebrosidade da polícia política, para se cristalizar e ganhar seu espaço e dimensão nacional e internacional. Marrabenta e Moisés Manjate, e todos que souberam defender esta proposta musical, possuem, a rigor, a mesma dimensão e estatura.
Moisés Manjate, como água de um rio, flui e move-se por vontade própria; ou será que é movido pelos instintos musicais que sempre o acompanharam. Pelos seus dedos passa a evidência de quem fez da música uma forma de permanecer imortal. Marrabenta e os seus intérpretes ancestrais são, pois, os intérpretes da natureza, aqueles que com a graciosidade de sua alma, remexeram nossos ouvidos e reconfiguraram o sentido de nossas pernas, músculos e do nosso ser.
Olhando para Moisés Manjate, hoje cadeirante e sentindo já os efeitos dessa longevidade, redescobrimos as mãos que criaram a mecânica do sonho e corporizaram esse beleza e harmonia musical. Entendemos o quanto a música preserva a beleza e elegância de quem a criou e essa obra se torna mais honrada e venerada. Neste aniversário, que por si só merece todas as honras e glórias, não celebraremos apenas o homem e a sua música, mas a longevidade de quem apenas soube fazer bem a este país. Bem-haja Moisés Manjate, imortal e verdadeiro símbolo musical. (X)
Sou Mais pelo Outro 25, o de Junho

Quando se fala na efervescência de "25", muitos se recordam imediatamente da Revolução dos Cravos de Portugal. Contudo, é outro "25" que faz o coração deste pedaço de terra chamado Moçambique bater mais forte – o 25 de Junho, dia em que celebramos nossa independência, a verdadeira emancipação do jugo colonial que por séculos tentou sufocar a rica tapeçaria cultural que define a nossa nação.
A independência de Moçambique não é apenas um marco político, mas um grito contínuo de expressão e valorização da nossa identidade. É o reconhecimento da potência das nossas línguas nacionais, como o Emakhuwa, o Elomwe, o Cisena, o Cishona, o ndaw e tantas outras vozes que compõem a melodiosa sinfonia de nosso povo e de seus hábitos bantu. Estas línguas são veículos de nossa história, transportando tradições, sabedorias e o espírito inquebravel dos moçambicanos.
Nossa gastronomia é um universo de sabores que desafia qualquer tentativa de dominação neocolonial. Os aromas do caril de amendoim, do frango à zambeziana, da nhemba e da mathapa, são testemunhos de uma culinária que soube adaptar influências externas sem perder a essência de suas raízes. Em cada prato, celebra-se não apenas a alimentação, mas a resistência de uma cultura que se recusa a ser homogeneizada.
Na música, artistas como Zaida Bacar, Zaida Chongo, Madala, Stewart Sukuma e grupos como Ghorwane, têm sido o reflexo da nossa diversidade sonora, misturando ritmos tradicionais com influências modernas, resistindo à hegemonia cultural e reafirmando a música como forma de resistência e afirmação cultural. A marrabenta, por exemplo, mais do que uma dança ou estilo musical, é a expressão da nossa alma resiliente e jubilosa.
Artisticamente, Moçambique tem se destacado através de figuras como Malangatana Ngwenya, Mia Couto, Chissano, ou a Renata cujas obras desafiaram a narrativa colonial e capturaram os anseios, lutas e alegrias do povo moçambicano. Cada pincelada de Malangatana, cada estrofe ou prosa é um testamento da nossa luta contínua pela soberania cultural diante de influências externas que buscam diluir nossa identidade.
Religiosamente, Moçambique é um mosaico de crenças que coexistem, demonstrando o respeito pela diversidade espiritual que é central para a nossa coesão social. Esta convivência entre diferentes religiões também simboliza a nossa rejeição ao imperialismo ideológico, seja ele de natureza cultural ou religiosa.
Em contraposição ao neocolonialismo subtil e à dominação simbólica ainda presentes no mundo de hoje, a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique no dia 25 de Junho é uma lembrança contínua da nossa soberania por afirmar, da nossa resiliência e do nosso compromisso com a preservação e valorização da nossa rica herança cultural. Devemos ser, sim, mais pelo nosso 25 de Junho, pois ele representa a nossa alma, a nossa luta e o nosso futuro. Longa vida a Moçambique, livre e soberano!
Moçambique e o 25 de Abril

Assinalam-se neste ano os cinquenta anos do golpe de Estado que pôs fim à ditadura em Portugal e acelerou a independência das antigas colónias portuguesas, incluindo Moçambique. É uma boa ocasião para reflectir sobre a importância desta data para os Moçambicanos.
Um bom ponto de partida é questionarmo-nos sobre a situação nas vésperas do golpe. Do ponto de vista do regime colonial português, a guerra aproximava-se velozmente dos limites do sustentável, em termos políticos, económicos e militares. Apesar de uma certa complacência norte-americana e europeia, típicas do contexto da Guerra Fria, desde o consulado de Kennedy, no início dos anos sessenta, que eram regulares nas Nações Unidas as censuras unânimes a Portugal. Em resultado, no início da década seguinte Portugal era um país isolado, enfrentando uma guerra intensa na Guiné, em Angola e em Moçambique. Com uma pequena população e uma pequena economia, há alguns anos que atingira os limites da sua capacidade. A história está ainda em grande parte por fazer relativamente aos custos da guerra, em parte devido ao secretismo de que este tema se revestiu na altura, com a multiplicação de rubricas orçamentais confidenciais para impedir uma visão pública da gravidade da situação. Mas as dificuldades eram evidentes. Basta citar uma carta do Ministro da Defesa Sá Viana Rebelo para o Ministro das Finanças, relativa ao fechamento das contas de 1972. O crédito confidencial estabelecido para complementar os custos de guerra, no montante de 1.100.000 contos, tinha sido ultrapassado por uma despesa que, nesse ano, rondou os 1.500.000 contos. Havia cerca de 440.000 contos a descoberto (175.000 relativos a Angola e 265.000 a Moçambique). O esforço para que as províncias participassem nas despesas de guerra havia produzido resultados muito modestos: apenas Moçambique conseguira contribuir com 40.000 contos. O Ministro da Defesa não sabia o que fazer para cobrir os 400.000 contos que faltavam, a não ser apelar desesperadamente para o Ministro das Finanças.
Além dos problemas financeiros, havia evidentemente a questão dos soldados. Em finais da década de sessenta Portugal era, depois de Israel, o país com mais elevada percentagem de homens mobilizados, que no início dos anos setenta chegavam aos 150.000. Ao mesmo tempo, a percentagem de desertores duplicava, chegando a atingir cerca de 20% do total. Este facto revelava uma recusa crescente de alistamento para a guerra, mas também, e sobretudo, o facto de Portugal ser à época um fornecedor crónico de mão-de-obra migratória para a Europa e as Américas. Durante um tempo, principalmente a partir de 1968, com a substituição de Salazar por Marcello Caetano, este problema foi torneado com uma mobilização crescente de forças locais, a ponto de em finais da guerra praticamente metade das forças coloniais serem africanas (no caso de Moçambique, bem mais de metade). Este processo, conhecido como africanização das forças armadas, permitia atenuar os problemas advenientes não só da escassez de homens, mas também dos custos e do impacto social da guerra na metrópole, além de ser solução prescrita nos modernos manuais da chamada contra-insurgência desde pelo menos as campanhas francesas da Indochina (com o chamado jeunissement) e inglesas da Malásia (com a same element theory). Uma carta do Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, datada de 1973, fazia a curiosa proposta de, a partir de 1974, Portugal começar a reduzir em 10% ao ano os contingentes metropolitanos, transferindo os recursos poupados para as colónias, a fim de que estas acelerassem o recrutamento de forças locais. No fundo, tratava-se de descentralizar a guerra colonial, tentando transformá-la em três grandes conflitos civis.
Mas havia uma outra dimensão da escassez de homens que não podia ser resolvida desta maneira: a da falta de oficiais de carreira que conduzissem a guerra. Após uma rápida subida de oficiais saídos da academia militar, de 68 em 1962 para 146 em 1967, o número declinou para apenas 40 em 1973. Cada vez mais era necessário recorrer a oficiais milicianos e, se estivermos lembrados, foi o descontentamento dos oficiais de carreira em relação aos privilégios destes últimos que constituiu uma das causas próximas do golpe.
De qualquer maneira, se em Angola a situação ainda não parecia desesperada, na Guiné a guerra estava praticamente perdida para o regime, e em Moçambique era motivo de enorme preocupação. De facto, neste último teatro de operações os resultados da Operação Nó Górdio, a última grande tentativa de resolver militarmente o conflito, tinham-se revelado muito aquém do que esperava o seu comandante, o general Kaúlza de Arriaga. A concentração de tropas em Cabo Delgado, requerida pela operação, desguarneceu as outras frentes e os combatentes da Frelimo, dando a volta por Tete, atravessaram o Zambeze para sul, de onde ameaçavam a barragem de Cahora Bassa, e entraram na região central de Manica e Sofala em 1972, passando a ameaçar directamente zonas com grande concentração de população branca e o corredor da Beira, de importância fundamental para a Rodésia. A guerra revelava finalmente o seu impacto, quer para a sociedade colonial, quer para os regimes brancos do Sul. Além disso, as forças nacionalistas começavam a encarar directamente a travessia do rio Save e o avanço para sul, embora tivessem agora pela frente outro tipo de dificuldades na medida em que esse avanço as obrigava a esticar as linhas de abastecimento em território hostil e relativamente desconhecido, desta vez sem o apoio de países vizinhos e tendo ainda de deparar com forças portuguesas mais concentradas, em defesa da região sul da capital.
Os manuais militares diziam que as guerrilhas desta natureza eram muito difíceis de combater, e que o papel das forças armadas era de suster a situação até se chegar a um acordo político que resolvesse o conflito. Todavia, embora as forças armadas tivessem feito o possível por segurar a situação, a solução política mostrava-se sempre adiada. Em Portugal, os dirigentes políticos há muito que viviam imersos no seu mundo de fantasias próprias, recusando-se a reconhecer o óbvio. É neste quadro que se situa grande parte das causas profundas do Movimento dos Capitães: uma manifestação de mal-estar geral que só o fim da guerra, inextricavelmente ligado ao fim do regime, podia resolver.
Todavia, é um grande erro de perspectiva considerar que o regime colonial havia baixado os braços. A criação de mais de mil aldeamentos dotados de milícias de recrutamento local onde crescia a violência e a dissolução social, a incorporação crescente de moçambicanos nas forças regulares (que no final da guerra ultrapassavam largamente as tropas de recrutamento europeu), e a criação de forças especiais de base étnica como os GEs, os GEPs e, já em inícios de 1974, os Flechas, enraizavam o conflito colonial, incutindo nele características crescentes de conflito civil. Ao mesmo tempo, a cooperação político-militar cada vez mais estreita do regime colonial com a África do Sul e a Rodésia, no âmbito do projecto ALCORA e outros, trazia cada vez mais o centro de gravidade do conflito de Lisboa para a região, ao mesmo tempo que outras soluções obscuras eram procuradas por forças coloniais locais (por exemplo, por Jorge Jardim) tendo em vista uma solução do tipo rodesiano ou o desmembramento do país, com as graves e complexas consequências que isso traria no futuro.
Tudo isto torna evidentemente muito difícil prever quanto tempo mais duraria a guerra. Por um lado, o avanço resoluto das forças nacionalistas com apoio popular e, por outro, uma generalização da violência e dissolução sociais, a que se vinha juntar a regionalização do conflito com o envolvimento cada vez mais directo da África do Sul e da Rodésia.
Por isso, ao levar ao desmoronamento das forças coloniais, permitindo que se acelerasse a transição de um pântano violento onde predominavam grandes ameaças para um ciclo que, malgrado as dificuldades persistentes, era inteiramente novo – o ciclo do Moçambique independente – o golpe do 25 de Abril constitui sem dúvida uma data de grande importância na História de Moçambique.