
Hélio Guiliche
(IN) dependência –- Não se esqueçam de voltar

Escrever é uma das mais belas e nobres formas de expressão de ideias e sentimentos. Assim como os músicos o fazem cantando e tocando, os artistas o fazem dançando, pintando e usando outras formas de manifestação folclórica, eu o faço com a minha escrita. Quando escrevo, me permito experimentar momentos de abstração, de reflexão, de crítica. Me permito também viajar para lugares (des) conhecidos, lugares de um mundo as vezes real e outras vezes imaginário – mundo este que um dia sonhei mudar.
Na altura em que celebramos mais um aniversario da conquista da tão almejada independência, parei para pensar no meu país; país que me viu nascer e crescer. Parei para escrever sobre o passado, o presente, e futuro deste belo Moçambique. Sobre os sonhos que sonhamos e não realizamos enquanto nação.
(In) dependência vista de uma forma geral como o culminar de um longo processo de luta pela conquista da autodeterminação, das liberdades e do direito de sermos uma nação e um país no verdadeiro sentido. Processo este que a história consagrou como um momento em que os moçambicanos decidiram colocar fim a um longo período de dominação e subjugação colonial, e que já pesava as costas de quem sentiu na pele os horrores do colonialismo, dos maus tratos, humilhação e desumanização perpetrada pelas mãos do colono durante largas décadas. Os moçambicanos tomaram o poder e abriram uma nova página na sua ainda incipiente história.
O mítico estádio da Machava, encheu-se de alma para vivenciar um dos momentos mais marcantes da história de Moçambique – A proclamação da independência nacional. Um momento em que milhões de moçambicanos inauguraram uma nova fase. Fase esta que se adivinhava difícil e perniciosa, mas que os filhos da terra saberiam gerir.
A ideia de independência pressupunha um manancial de ideias e teorias que aos poucos foram se esbarrando com a dura realidade. A ideia de liberdade, progresso, desenvolvimento, segurança, soberania, sedimentação da democracia, construção das bases para a prosperidade da nação eram basilares para a construção de um estado-nação. Todavia, muitas dessas ideias não foram devidamente cozinhadas, e não tiveram o desfecho desejado. Na ressaca do inverno de Junho 1975 a atmosfera era essa – de muita esperança, de muita expectativa e de uma sagacidade jamais vista.
Com a conquista da independência, emergiram novos problemas - alguns típicos de nações recém-independentes e livres; e de algum modo previsíveis em maior ou menor escala; outros foram resultado da natureza humana avida em ter poder, e da ganância de alguns governantes, muitos deles inexperientes e ciosos em sentar-se ao lado do famoso banquete.
O despreparo, a ganância e a permeabilidade às investidas do neocolonialismo, semearam paulatinamente o divisionismo, a desconfiança e a traição entre as mesmas pessoas que outrora uniram-se para libertar o país. As constantes incursões das potencias imperialistas, a famosa mão externa disfarçada de ajuda, foram se cristalizando na sua mais antiga e bem-sucedida fórmula do divide et impera (dividir para reinar).
Os nossos libertadores, os nossos heróis e os nossos referenciais de luta e verticalidade foram se transfigurando ao sabor do vento, e alguns deles viraram, nossos opressores. Nasceram elites negras, que se esqueceram dos ideais da revolução e se preocuparam em vestir a máscara de ovelha em corpo de lobo. Os nossos libertadores, tornaram-se obcecados pelo poder e pela posição de destaque no banquete pós-independência. Recriamos e personificamos a aquilo aque Frantz Fanon designou de “Pele Negra e Mascaras Brancas”, onde pretos oprimem outros pretos e se acham legítimos eleitos para o fazer em virtude do tempo emprestado durante a mocidade e juventude para que fossemos hoje o país livre que somos. Será que somos?
A pobreza, a guerra, as desigualdades, a corrupção, a deficiente cobertura da rede sanitária, educacional e nutricional são alguns dos elementos que devem ser reflectidos por todos e por cada um de nós, ao celebramos a conquista da independência. O maior presente que podemos oferecer aos moçambicanos é pensar o país de forma integrada e holística. É atacar aquilo que julgamos ser nefasto ao nosso desenvolvimento como país . É oferecer, não discursos vazios e populista, mas programas concretos, inclusivos e conferir mais dignidade para o nosso povo. E isso só se consegue se recuperarmos a mística que nos guiou até ao mítico momento em que gritamos na Machava que somos um país independente.
Nesta curta reflexão, o meu pedido carrega a dor e frustração do nacionalista que muito lutou por este país, mas que parece agora vencido pelo cansaço. Um nacionalista que se frustrara com o estágio do seu país amado – por sinal esse é Moçambique. Carrega também o desejo inconfesso de um grupo comprometido com os ideais da revolução, mas que se sentiu traído e abandonado no tempo, no espaço e pior ainda, na consciência patriótica de um amanhã em que o sol de Junho brilharia pelos quatro pontos cardinais do país; a mensagem do homem novo que nunca chegou a ser visto senão no próprio projecto. Carrega por fim, ainda que sem mandato, uma juventude que vê mutilada e adiada a possibilidade de participar de forma activa no desenvolvimento do país 47 anos após a sua independência.
A fórmula “Umuntu Ngumuntu Ngabantu”, que significa nós somos e nos tormanos mais pessoas quando reconhecemos e valorizamos a existência do outro faz-se cada vez mais actual no momento em que caminhamos para o jubileu da independência em 2030. Esta fórmula da alteridade é um convite transgeracional para todas as forças construtivas e ciosas em edificar um Moçambique livre da pobreza, da guerra e das desigualdades sociais - um lugar onde todas as crianças possam sonhar, acreditar e tornar os seus sonhos uma realidade viva e vivificadora. Onde todos moçambicanos e todas moçambicanas possam viver o verdadeiro significado, enxergar o brilho e, sentir o calor do Sol de Junho.
Não se esqueçam de voltar. Não se esqueçam do vosso país. Não nos deixem perder a esperança; não permitam que as nossas crianças cresçam sem sonhos. O Homem Novo ainda tem espaço e nós estamos dispostos a refundar a nossa ideia de moçambicanidade – este é um convite a ilustração.
Por: Hélio Guiliche (Filósofo)
O Poder Livro – Genealogia da (Des) construção

Nasci e cresci num ambiente em que os livros jornais e revistas eram parte integrante da nossa vida. Pouco percebia do real significado que aqueles amontoados de papel tinham, tampouco da riqueza que escondiam. A medida em que as letras começaram a fazer sentido, as palavras ganharam melhor significado e a curiosidade despontou. Por conseguinte, muito cedo me permiti folhear alguns livros que tinha em casa. Ganhei gosto, aprendi a conversar e a entender o poder que o livro tem.
O livro é fonte do saber, de informação, de cultivo de homens doutos e cultos; são uma riqueza única e de valor inestimável para a sociedade. Para países em vias de desenvolvimento, como o caso de Moçambique, com altas taxas de iliteracia, o livro é uma arma fundamental no processo de educação e emancipação, ocupando sólida relevância.
O contexto evolutivo do registo- de informação desde as sociedades antigas aos nossos dias, mostra que, quando a humanidade fez a transição das fontes orais para as fontes escritas, assistiu-se a um salto qualitativo no processo de armazenamento e um maior acesso as fontes do conhecimento. O saber passou a ser não apenas mais acessível, mas também venceu a barreira geográfica e temporal - podia passar de geração em geração de forma fiel e fidedigna.
A conservação e armazenamento do conhecimento adquirido ao longo do tempo, evoluiu a pari passu a medida que as sociedades foram se desenvolvendo. Das gravuras, passando pelas pinturas rupestres, murais em pedra, em artefactos, e mais tarde em papiro com o uso dos hieróglifos, a humanidade foi se construindo rumo a um mais abrangente acesso a o conhecimento registado. O surgimento da imprensa escrita foi um marco fenomenal pois permitiu que a geografia e historia dos quatro cantos do mundo se cruzassem de forma eficaz e rápida.
Hoje, graças a esses registos, é possível visitar os escritos mais antigos, os clássicos nas suas mais diversas formas (desde o grego, latim, hebraico, aramaico à outras línguas civilizacionais). O livro permite a aprendizagem, a reflexão, a critica e o diálogo entre gerações.
Entre a construção e a (des) construção
O drama do africano durante séculos tem sido associado ao acesso a educação de qualidade que se julga, ser o caminho para a emancipação mental, cultural e de (re) construção da sua identidade. – Num mundo em que o conhecimento significa poder, quem não o tem, vive um drama humano existencial.
Nesta analogia, pouco interessa se o conhecimento que temos nos é identitário, se espelha a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa história e as nossas vivencias enquanto africanos e donos de uma ontologia própria. A luta do africano tem sido a conquista pelo reconhecimento da sua racionalidade e de uma incessante afirmação da sua humanidade – ainda que este reconhecimento custe mais a sua alienação. A pouco e pouco vamos enterrando a nossa axiologia, os nossos usos e costumes, as nossas línguas, tradições, religiões e com isto vamos enterrando a nós mesmos, o nosso SER.
A educação que se pretendia libertadora e emancipadora, virou uma educação alienadora e usurpadora. Sim, usurpadora porque permitimos deixar para trás o que é realmente nosso e adoptados com muito orgulho o que não é e nunca foi nosso. E este processo desenrolou-se numa lenta e progressiva narrativa teórica e prática de inferiorização e de negação do ser do africano.
Contemporaneamente um dilema emerge na indagação do nosso lugar no mundo – o dilema identitário que tem muitas semelhanças com a disjuntiva periférica: ser como os do centro ou ser como nós mesmos? – Numa clara alusão a dúvida que se instalou em cada um de nós ditos civilizados.
Aqueles a que chamamos atrasados, ainda conseguem ser mais evoluídos e ilustrados que nós, ditos civilizados e herdeiros da ciência, dos novos ideais que nos foram impostas.
A arma usada para que tudo se efectivasse da forma mais natural foi o livro na sua capa educacional e evangelizadora. Não que ela (a educação) tenha sido má; muito pelo contrário, ela foi e é boa e necessária para edificarmos uma sociedade progressista e alicerçada nos valores da ciência, do desenvolvimento e da evolução da espécie humana. Os modelos educacionais e os currículos adoptados por muitos países independentes como é o caso de Moçambique, foram e são em algum momento modelos que gradualmente preconizaram a negação do nosso ser e inculcaram aceitação do ser do outro, modelos que nos distanciaram da nossa realidade.
Quando o livro que serve para formar milhões de crianças, adolescentes e jovens do Rovuma ao Maputo, e do Zumbo ao Índico, contém erros grotescos, desinformação e atropelos graves a ciência, e tais livros tenham passado pelo crivo da instituição de tutela, então o livro que tanto apregoamos é uma arma altamente destrutiva. Destrutiva porque há anos que vimos escangalhando o ensino público e tornando-o uma autêntica chacota - fazendo mais do mesmo na multiplicação de conteúdos não profícuos; há anos que transferimos a mediocridade e incompetência institucional para as nossas crianças e, há anos que reproduzimos um discurso vazio e inócuo em torno da educação.
Mas, mais do que erros, e incongruências, os nossos currículos estão em parte desfasados da realidade e, não espelham o país que queremos ser nas próximas décadas. Na reflexão em torno do poder do livro (livro não como objecto isolado, mas como base de formação), quero destacar três dimensões julgo fundamentais para a construção de um país genuinamente orgulhoso do seu passado, do seu presente e certo de que o futuro será risonho:
- A dimensão nacionalista que olha para nossa história, nossos feitos enquanto povo, país e nação;
- A dimensão Ética que olha para a globalidade da pessoa humana e para o tipo de sociedade que estamos a (des) construir e,
- A dimensão futurista que tenta vislumbrar o país que queremos ser nas próximas décadas.
Não se pode normalizar gralhas nem produzir erratas para a nossa quase que penosa e decadente situação, aceitando que no futuro possamos ler e acreditar que a colonização foi um processo pacífico e não conflituoso, e de laços de fraternidade entre o colonizador e o colonizado; que os mais de 500 anos de presença colonial em África, Asia e América Latina foram, juntamente com a desumana escravatura, um momento de intercambio turístico, religioso e de descobrimento mutuo.
Não se pode, nem se deve permitir que o plano de desestruturação e de promoção de uma alfabetização medíocre seja uma bandeira de desumanização do negro e a negação da sua racionalidade, historicidade e eticidade. Um povo sem história é um povo sem rumo e um povo sem conhecimento da sua cultura não tem futuro algum; e o caracter malévolo dos manuais e livros produzidos reside neste aspecto – a marginalização, banalização e vulgarização do processo educativo.
O livro tem o papel idêntico ao da enxada sobre a terra – tornar possível um processo de produção de algo novo, abrir os solos e produzir – subentendendo-se que as mentes dos alunos são solos férteis e que merecem produção de qualidade. O livro deve abrir mentes e ajudar a reflectir um mundo e um país diferente e cada vez mais inclusivo.
Por: Hélio Guiliche (Filósofo)
Os 4Gs de Moçambique Contemporâneo: Governação, Gás, Guerra e Género

Natal do Índico – O meu pedido para Cabo Delgado!!!
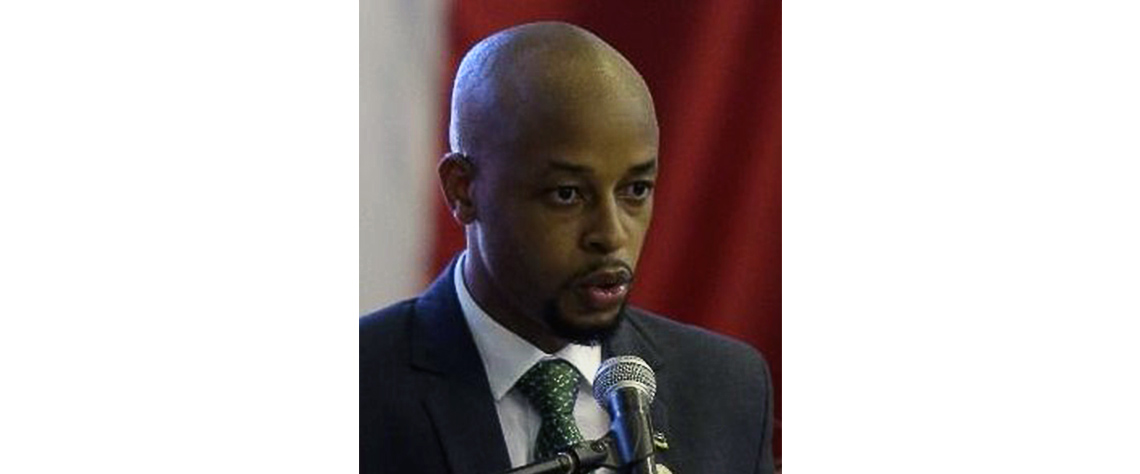
Olá Pai Natal. Espero que estejas bem; espero igualmente que o peso da idade não te tire a boa disposição que lhe é característica. Nunca te vi pessoalmente, mas cresci a acreditar que existias e que eras um velho porreiro, de massa corporal robusta, barba branca e cumprida, e de vestes vermelho e branco. Reza a história que tradicionalmente andas na neve à trenó puxado por renas. Sei que vais premiando às meninas e meninos bem-comportados ao longo do ano.
Bom, Pai Natal, não quero me focar nas tuas características físicas, com tua nacionalidade, gostos clubísticos nem com as tuas preferências gastronómicas. Sei que no Natal és a figura que reúne consenso e que faz as maravilhas de muitas crianças pelo mundo.
Escrever-te esta cartinha foi um exercício que julguei acima de tudo de exercício de cidadania e, se for a anexar o meu Bilhete de Identidade irá notar que estou fora do grupo de eleição e não tenho idade para fazer parte da tua lista enorme de pedidos da mais diversa linha (desde playstations, bicicletas, brinquedos diversos, roupas e muito mais), mas mesmo assim escrevo na esperança de que a carta chegue a ti. E se não puder satisfazer aos pedidos, não se coiba de fazer chegar a mais pessoas que detenham poder de influenciar e quiça tenham vontade e bom coração porque escrevo com o coração em lágrimas.
Sou de Moçambique, um país localizado na zona sul do continente africano. Um país bonito, de gente muito hospitaleira e alegre, embora ultimamente a tristeza grassa grande parte dessa gente alegre. Um país substancialmente rico, mas praticamente empobrecido. Na sua vastidão costeira é banhado pelo Oceano Índico e tem ocorrência de acidentes geográficos esplendidos; tem praias paradisíacas, reservas e parques naturais de dar inveja a qualquer um que visitar – cá entre nós acho que o Pai Natal irá trocar a neve pelo calor tropical e passar uma temporada aqui quando nos visitar. Mas não me quero alongar a caracterizar o nosso país para não tornar a minha carta ainda mais longa. Se tiveres alguma dúvida podes consultar na internet porque sei que usas um telefone moderno com acesso a internet de última geração. E se persistirem as dúvidas ainda, veja no mapa mundo e notará que fazemos fronteira com a África do Sul – este país sobejamente conhecido pelo mundo, pelo melhor e pelo pior.
Pai Natal!!!
Decidi vestir a capa de mensageiro das crianças do meu país porque, infelizmente grande parte delas não sabe ler nem escrever e não pode expressar seus sentimentos, desejos e anseios; tampouco ouviram alguma vez falar desse velho barbudo que espalha presentes pelas crianças bem-comportadas. Aqui, a luta diária é pela sobrevivência numa autêntica e desenfreada maratona por água, comida e, se possível um pouco de paz. A necessidade primaria aqui no nosso país não são brinquedos, porque ninguém brinca tendo estomago vazio, com instabilidade e com incertezas quanto ao amanhã. Neste momento que escrevo esta carta, milhões de crianças em todo o país passam por privações das mais básicas. A única coisa que me apraz partilhar é que são crianças que transmitem muita paz mesmo vivendo na guerra; nutrem bastante amor mesmo que o ódio seja uma nuvem perene, e transpiram esperança mesmo que as os sonhos de um futuro risonho sejam de certo modo ofuscados pela incerteza do presente nublado.
A zona norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado (por sinal a mais bafejadas pela descoberta de enormes quantidades de recursos minerais), a situação não é boa. Na verdade, é péssima pois a insurgência armada criou uma onda tremenda de deslocados e nessa onda temos milhares de crianças que correm risco de vida, risco de virarem crianças soldado e não viverem a sua infância na plenitude – infância esta que já era penosa antes deste horrível conflito. A insurgência Pai Natal, semeou luto, sofrimento, dor e muita tristeza nas famílias moçambicanas e deixou um rasto de destruição e devastação tremendo.
O nosso saudoso Presidente – O Marechal Samora Machel, dizia que “as crianças são as flores que nunca murcham”. Mas nesta carta carrego o pesar da dor e desespero do dia-a-dia vivido por estas crianças – sem comida, sem água, sem abrigo seguro e digno e ainda por cima longe dos seus familiares que sucumbiram ao sabor das malditas armas.
A insurgência mata um pouco de cada moçambicano a cada vida que se esfuma. Cada vida que se vai é menos um sonho, menos um sorriso e menos uma certeza. Por isso não peço nesta carta brinquedos; não peço fartura na mesa; não peço donativos nem ajuda externa disfarçada de eterna bondade. Peço que o Pai Natal coloque mais responsabilidade naqueles que governam e dirigem os destinos do país; Peço mais respeito pela dignidade humana e mais amor por estas flores para que efectivamente não murchem nunca. Mais saúde, mais educação, mais segurança e melhores condições de nutrição para todos do Ruvuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.
É meu, e nosso sonho ver o país livre da insurgência e trilhar por caminhos de paz, prosperidade, progresso e desenvolvimento e sei que estas crianças de hoje serão o futuro e a certeza do amanhã. Pai Natal, o meu pedido não precisa de embrulho e muito menos de meias na janela para fazer chegar. O meu pedido é o pedido de milhões de crianças, jovens, adultos e velhos de Quissanga, Nangade, Mecufi, Moeda, Palma, Macomia, Mocímboa da Praia, e muitos outros distritos.
A carta é para ti, mas tornarei a mesma pública para que mais pessoas possam ler e se vestir de Pai Natal não apenas na época Natalina, mas em todas a épocas do ano, porque Natal é todos os dias e acredito que todos podemos fazer o bem a todo instante e tornar a vida menos pesada.
Feliz Natal a todos!!!
Hélio Guiliche (Filósofo)
Cardeal Dom Alexandre – Um Homem ao serviço de muitas causas. Como imortalizar o seu legado?
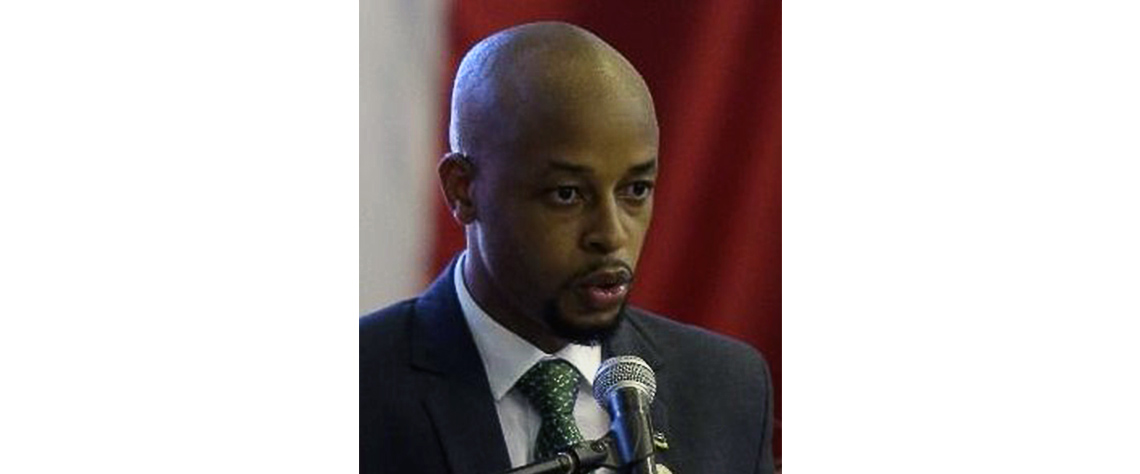
Falar da vida e obra de Sua Eminência O Cardeal Dom Alexandre José Maria dos Santos é, e será sempre um exercício que exige elevada capacidade de abstração para narrar todo um percurso e uma trajectória (caracterizados por suas incansáveis lutas, suas vitórias e porque não suas derrotas), e todos eventos que caracterizaram a odisseia religiosa, educacional e humanística desta que é uma figura incontornável na história do nosso vasto Moçambique. Para não pecar por soberba, e não perder de vista o objectivo deste texto de agradecimento, enaltecimento e despedida, focar-me-ei apenas no cerne - Um Homem ao serviço de muitas causas.
A Época Medieval é cronologicamente considerada o período mais longo da História da Humanidade (com mais de 1000 anos). Período este que viu florescer o surgimento das primeiras Universidades no mundo. Nesta época, a Filosofia e a Teologia viveram de forma única a rivalidade entre a fé religiosa e a razão científica; um conflito que opunha a religião à ciência e desafiava a cada instante a tentativas de conciliação e harmonização destes dois domínios do saber sem necessariamente anulá-los, numa fórmula traduzida na fé alicerçada na razão e, na razão que ajudaria a perceber a fé. (Intellectus quaerens fidem, et fides quarens intellectum.
Um dos mais brilhantes e notáveis pensadores da época em alusão foi São Tomás de Aquino - (figura que desempenhara tremenda influência na cosmovisão teológica e educação de Sua Eminência O Senhor Cardeal Dom Alexandre), que durante o seu percurso académico foi instruído por Alexandre Magno (Ou Alexandre o Grande). Curiosamente, o nome Alexandre, mestre de Tomás de Aquino é o nome de baptismo do Senhor Cardeal - Aproximações e coincidências que corroboram para ideia da grandeza do nome em referência.
De certo, nestas breves linhas será complicado trazer o espelho dos 103 anos em que o Cardeal viveu e fez viver, disseminando a fé, espalhando a esperança, semeando amor, educando o seu povo e proliferando ensinamentos. E nesses 103 anos teve o prazer de colher os primeiros frutos da sua incansável luta por uma sociedade mais capaz, mais justa e intelectualmente emancipada. E são esses frutos que devem se encarregar de assegurar e alargar o escopo do outrora iniciado.
Dom Alexandre foi muito mais do que uma figura religiosa e eclesiástica destacada, e comprometida na causa do bem estar social, do crescimento, da coesão no seio da Igreja Católica e do catolicismo em Moçambique, do Ecumenismo vibrante e da difusão da mensagem de Deus por todo o lado e em várias línguas. Para ele a fé tinha o poder de quebrar barreiras e unir povos (sejam eles considerados civilizados ou indígenas), e para isso as línguas nativas serviram de veículo e ferramenta estratégica de penetração e evangelização nas comunidades.
Foi um incansável peregrino da paz; astuto e apaixonado amante pela ideia de uma educação para todos e em todos níveis. Sua filosofia e ideia transformadora era clara – somente investindo mais e expandindo a educação se poderia criar bases sólidas para emancipar e desenvolver a nação, e consequentemente sonhar com um Moçambique mais inclusivo e mais próspero. Daí a sua luta assaz contra a pobreza absoluta e o seu compromisso vincado com a formação sistemática do Homem.
Sua grandeza transcende a imagem que muitos de nós temos – Patriarca da Igreja, primeiro Sacerdote e Bispo moçambicano. Na verdade Dom Alexandre foi um cultor, um educador visionário e um humanista douto com visão ampla da realidade do país e com cega convicção de que a educação do homem conduziria à libertação e à emancipação das mentes dos moçambicanos.
Dos vários momentos de partilha, fossem eles na Universidade, na Igreja e nos Seminários bem como em eventos vários públicos e privados, algo deliberadamente se repetia, entre a preocupação presente e os sonhos futuros: o paradoxo entre a riqueza do país e a incapacidade de transformar essa riqueza em algo útil para os moçambicanos. Segundo ele, Moçambique não é um país pobre; muito pelo contrário, é muito rico e mal explorado. O problema reside na falta de preparo e no défice enorme de conhecimento e precisa de mentes para transformar sua riqueza no bem-estar de todos.
As lentes visionárias do futuro, a crença na mudança de paradigma social, económico e educacional, e a transversalidade primeiro do seu pensamento, e depois da sua acção fizeram de Dom Alexandre José Maria dos Santos uma das figuras de Moçambique Contemporâneo de maior destaque, com projectos e obras transgeracionais que vão desde a formação de Padres dentro e fora do país, passando pela intermediação do conflito entre a FRELIMO e a RENAMO que culminou com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz (1992), à formação de vários quadros superiores em várias áreas e domínios do saber.
Dom Alexandre, fora um dos mais sagazes impulsionadores das artes liberais e ciências do espírito no país, e desafiou centenas de jovens estudantes universitários e seminaristas (fazendo uso de ferramentas éticas, teológicas, filosóficas, e humanísticas) a pensarem com liberdade intelectual, e de forma crítica e analítica contribuírem para edificação de um Moçambique melhor. Fora um cultor do saber Ser, saber Estar e saber Fazer. Fora acima de tudo alguém muito preocupado com as questões éticas e com a dimensão da dignidade humana– ditames estes herdados da Filosofia Escolástico-Medieval de São Tomás de Aquino.
E é sobre estes e outros feitos de Sua Eminência O Cardeal Dom Alexandre, que nós, a geração do hoje devemos assentar a nossa reflexão e acção. Replicar vivamente sobre as gerações vindouras e incutir a necessidade permanente de pensar no Outro; Uma reflexão centrada no homem concreto como um fim e não como um meio. Viver e ensinar a criação de modalidades e estratégias de desenvolvimento do que fora iniciado por Dom Alexandre.
A coragem para iniciar novos e ambiciosos projectos, a ideia viva e prática do altruísmo, o espírito de criar e buscar novas realidades, e o desejo de ver um país mais educado, desenvolvido e próspero são algumas das licções práticas que Sua Eminência o Cardeal Dom Alexandre nos deixa. Foi mais de um século de um Homem talhado para a vida do bem estar do próximo. Saibamos viver e honrar os seus feitos, os seus ensinamentos e imortalizar sua obra fazendo do nosso país uma referência no rendezvous civilizacional.
Obrigado e até sempre Cardeal Dom Alexandre
Por: Hélio Guiliche (Filósofo)
De Matalane à Ndlavela – Manifestações diferentes, mesma enfermidade – Uma análise na perspectiva do género
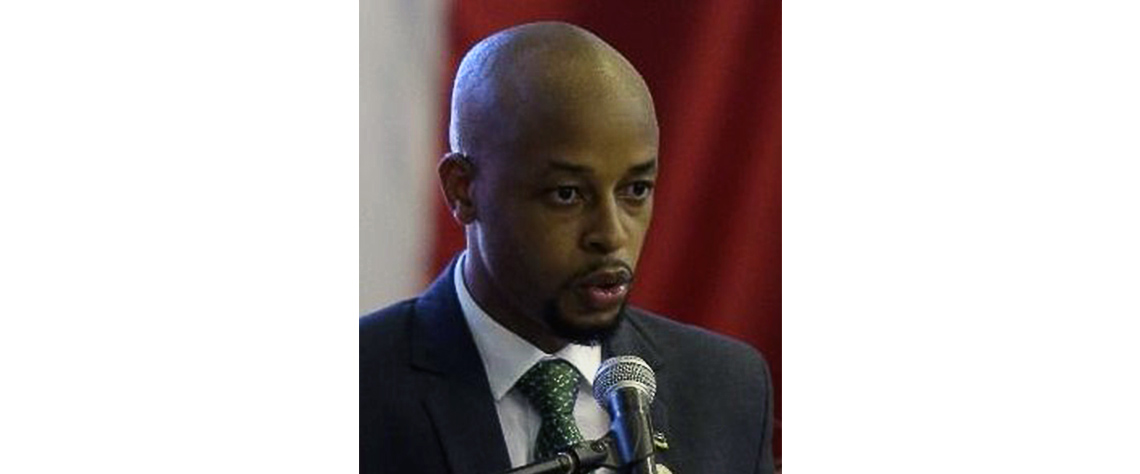
Escrevi recentemente um artigo intitulado “A promoção da mediocridade – relações de poder e dependência na nossa sociedade”, onde abordara o escândalo das formandas de Matalane que foram abusadas sexualmente pelos instrutores, tendo algumas delas ficado grávidas. Um episódio que causou uma onda de indignação e consternação a vários níveis da sociedade e que envergonhara uma das instituições estatais de maior relevo e utilidade pública, que deve transpirar credibilidade e verticalidade.
Eis que mais um vergonhoso episodio abala e mancha toda uma instituição que se pretende ser de reeducação e preparação para a reinserção social de pessoas privadas da liberdade – falo do estabelecimento prisional de Ndlavela. Fruto de uma pesquisa aturada realizada pelo Centro de Integridade Pública (CIP), o vergonhoso escândalo do esquema de prostituição envolvendo presidiárias foi tornado público chocando toda uma sociedade. Na verdade estamos perante manifestações diferentes para uma mesma enfermidade – caracterizada a decadente moralidade que grassa a nossa sociedade, o sexismo exacerbado, as relações de super poder, e o sentido de impunidade.
Um negócio de exploração de mulheres para fins de prostituição, que choca com todos princípios atinentes a ética social e institucional e esfaqueia as entranhas da dignidade da pessoa humana em todas suas dimensões. Um acto praticado de forma sistemática, envolvendo altas patentes do estabelecimento prisional de Ndlavela e uma elite abastada que paga grandes somas em troca de serviços sexuais.
Aquando do escândalo de Matalane, vozes existiram que de forma peremptória acusaram as formandas de falta de postura deontológica, oferecimento e de assédio aos instrutores. Por outras palavras, as instruendas passaram de vítimas a prevaricadoras e, entre críticas, vilipêndios e pedido de punição exemplar, a sociedade não se esqueceu mas arquivou o caso.
E para Ndlavela, o que diremos? O que faremos e o que poderemos esperar? O que a sociedade fará para não deixar que este e mais casos se esfumem ao sabor da indiferença e das contra narrativas existentes?
É de todo inegável que estamos diante de um crime público. Ou melhor, de vários crimes públicos que se alimentam em cadeia. Legalmente esta estabelecido e previsto no número 3 do Artigo 61 da CRM, que nenhuma pena na República de Moçambique implica a cessação dos direitos fundamentais. Obviamente, haverá algumas restrições advindas da tipologia da própria pena, não sendo o caso nem de um nem de outro fenómeno aqui reflectido.
Uma breve leitura de estudos sobre género como ferramenta metodológica, política e social para problematizar e reflectir os processos que instituem e sustentam desigualdades sociais entre homens e mulheres, e autorizam formas de subordinação feminina, facilmente poderíamos somar vários indícios que sinalizam uma trajectória de reconhecimento, incorporação e legitimação crescentes dessa teorização. Quero com isto dizer que há indícios bastantes para afirmar a existência de uma legitimação silenciosa a nível doméstico, institucional e social de várias práticas atinentes a desvalorização, subordinação e inferiorização da mulher.
A história moderna e contemporânea testemunhou a partir da primeira metade do século XX a emergência de vários movimentos de mulheres e tipos de Feminismos que chamaram atenção à necessidade de se investir mais em produção de conhecimento e estudos com vista uma maior capacidade de denunciar e sobretudo compreender e explicar a subordinação social e a quase inexistência nos processos de participação política a que as mulheres estavam sujeitas até pelo menos o final do século transacto.
De entre várias acepções existentes, ressaltam duas diferentes e conflituantes: Por um lado, o género vem sendo usado como um conceito que se opõe ou se complementa a noção de sexo biológico e se refere aos comportamentos, atitudes ou traços de personalidade que a(s) cultura (s) inscreve (m) sobre corpos sexuados. Por outro lado, género tem sido usado, sobretudo pelas feministas para enfatizar que “a sociedade forma não só a personalidade e o comportamento, mas também as maneiras como o corpo {e portanto, também o sexo} aparece”. E nestas acepções, podemos ir buscar algumas explicações elementares para tentar pelo menos perceber a génese deste tipo de pensamento que conduz a uma acção negativa que é legal e socialmente inaceitável.
Quando me refiro a capacidade de denunciar, sobretudo compreender e explicar a subordinação social, quero me insurgir quanto a normalização do anormal, a estabilização do absurdo e a perpetuação de dogmas e medos que não nos edificam enquanto sociedade. Esta sucessão de fenómenos aparentemente dispersos, pode ser ainda mais comum e mais viva em muitas instituições e em vários quadrantes do nosso vasto país. É uma sucessão perigosa de um fenómeno indicativo daquilo a que muitas instituições se foram tornando ao longo do tempo e hoje encontram-se manchadas com nodoas de imoralidade.
Na verdade não se trata de um fenómeno de Matalane ou de Ndlavela apenas. É um fenómeno que tem raízes muito mais profundas e estes são apenas alguns dos resultados, e por sinal resultados da vergonha e da falta de pudor. Denominador comum nisto é que são as mulheres quem mais sofrem com isto – daí o nosso foco analítico nas relações de género e seus desdobramentos com o poder instituído. São as mulheres as maiores vítimas destas atrocidades e são elas que mais são vitimizadas em vez de protegidas (processo de normalização do anormal).
Numa análise profunda a estes e mais fenómenos vividos e sobejamente conhecidos por nós, facilmente se chega a conclusão que estes casos são na verdade o reflexo daquilo que somos como sociedade e da forma como olhamos e tratamos a mulher. É um sintoma grave que veemente e copiosamente vamos ignorando, pois nas relações de género nos foi ensinado que o homem é o mais poderoso e tem mais direitos que a mulher.
É premente fazer uma introspeção e iniciar uma reforma nas nossas casas, locais de trabalho e na sociedade. As instituições tanto estatais como privadas devem recuperar o normal funcionamento e a restauração do seu modus operandi e dos modelos de moralidade pública e privada, do respeito que outrora existiram. É preciso coragem para abordar, firmeza para desconstruir, integridade para actuar de forma imparcial, mão dura para punir os infractores, e valores éticos no seu mais alto nível para elevar a paz e harmonia social. Talvez assim poderemos resgatar o estado e suas instituições desta tremenda imundice e promiscuidade que envergonha a todos. Deste modo poderemos sonhar em edificar uma sociedade alicerçada em valores fundados no humanismo, na verticalidade e acima de tudo no respeito pelos direitos humanos.
Por Hélio Guiliche (Filósofo)
Reflexão sobre a (i) relevância das Organizações Sociedade Civil em Moçambique
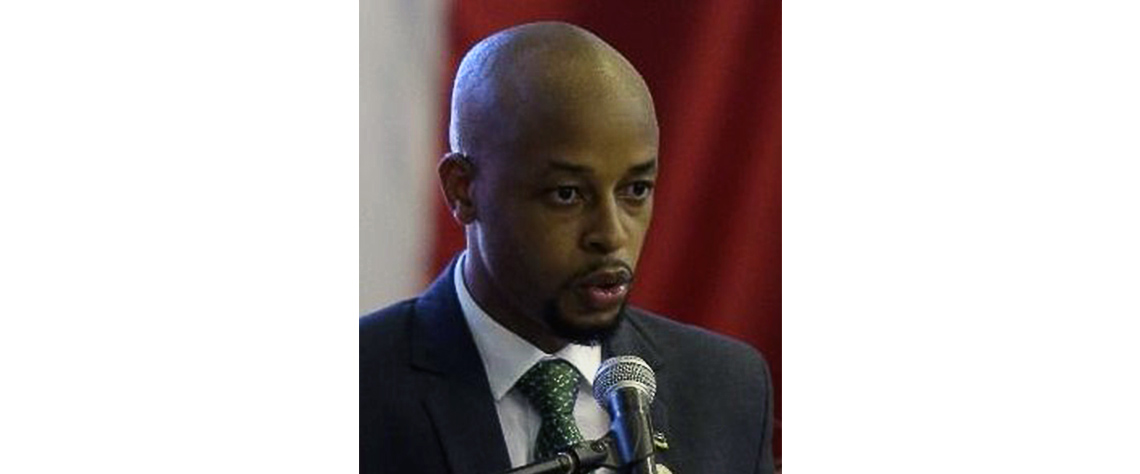
As Organizações da Sociedade Civil (OSC) em Moçambique são relativamente novas e as suas primeiras aparições e intervenções datam dos primórdios dos anos 1990. Paulatinamente o seu escopo foi se alargando e sua influência se estendendo para áreas relevantes e demandadas a nível da sociedade. E quanto mais elas foram crescendo e ampliando seu raio de influência, mais problemática e discutida foi ficando a sua aceitação. Elas vem reclamando por mais espaço de actuação e, paradoxalmente tal espaço lhes é progressivamente negado.
O espaço cívico é entendido como um espaço onde todos indivíduos/ cidadãos da polis realizam livremente os seus desígnios, um espaço do rendezvous geracional de ideias e pensamentos. É um espaço que simboliza os valores mais altos da democracia, dos direitos humanos e sugere igualmente a materialização dos contratos social e político que celebramos uns com os outros.
Alguma literatura explica a natureza naturalmente social do homem – traço distintivo dos outros animais (Onde está o homem, há sociedade; Onde está a sociedade, existe o Direito). Recorrendo a clássica definição Aristotélica, o homem é um animal eminentemente político e busca sua realização dentro da sociedade. Na mesma sociedade ele associa-se umas vezes e desassocia-se outras vezes, construindo formas de associação que melhor respondem aos seus anseios sem no entanto perder a sua sociabilidade e politicidade. Aqui podemos por analogia buscar a hierarquização social e política, e consequente legitimidade de certos grupos dentro da sociedade, entendendo como algo natural derivado das habilidades inatas ou adquiridas e talentos, e não como algo divino.
Com a geração contratualista, a reflexão maior gira em torno da reflexão da saída do homem do estado de natureza para a sociedade civil. A natureza humana começa a ser discutida filosófica, sociológica e antropologicamente para tentar explicar o comportamento do homem dentro e fora da sociedade – De Jean Jacques Rousseau, passando por John Locke e o Barão de Montesquieu encontramos abordagens distintas e igualmente ricas sobre o contrato social implícito onde cidadãos livres movidos pelo medo da morte violenta, insegurança e pela desconfiança mútua aderem ao estado social e civil por via de um contrato implícito e por vezes explícito. Mais tarde, vendo suas liberdades pouco seguras e receando a traição e não cumprimento de acordos aderem ao pacto social por meio da outorga das suas liberdades, dos seus direitos e cumprindo com deveres. A figura e imagem do soberano emerge como resultado deste contrato social e político. Francisco Soares (1548-1617) afirma que “não foi conferido ao homem o poderio político sobre seus pares, de modo que esse domínio não haveria de ter fundamento diverso do consenso, através do qual a multidão se reúne em um só “corpus politicum” (Del Vecchio, 1979:84)
Numa fase mais avançada, com o esplendor das leis em Montesquieu no seu “O Espírito das Leis”, a sociedade dá um passo qualitativo e regulamenta a sua acção criando bases legais para a regulamentação dos comportamentos e acções, criando um corpus politicum com competências separadas – nasce assim o Estado de Direito com bases da separação de efectiva de poderes (os três poderes do Estado – Executivo, Legislativo e Judicial).
Um pouco por todo o mundo o espaço cívico vem sofrendo sucessivas e progressivas ameaças e atentados que paulatinamente contribuem para o seu fechamento e deterioração. Este fenómeno não é novo e tampouco isolado, e é mais visível em países com regimes com tendências autoritárias e ditatoriais. As Organizações da Sociedade Civil, admiradas por uns e odiadas por outros, são também consideradas como sendo o braço de apoio à governação, vem travando uma luta para a edificação de uma sociedade mais justa, mais participativa, mais transparente e mais inclusiva. E dada a sua alta exposição em eventos e acções por vezes confundidas como sendo apanágio único do executivo e do poder do dia, sua legitimidade e mandato acabam por ser questionadas, e suas acções as vezes combatidas.
É meu entender que, a governação é uma vasta área e que espaço cívico é apanágio de todos e de cada um de nós, por isso, defendo afincada e desapaixonadamente neste artigo que, para que ele seja aberto e que represente o reencontro dos ideais supremos da democracia e do Estado de Direito é necessária uma maior aceitação de actores e players que muito podem contribuir na vastidão da acção de governação.
Estudos recentes sugeriram a possibilidade de ocorrência de dois eventos nefastos a médio prazo: o primeiro era a então incipiente flagelação das OSC e o segundo eram os ataques públicos (desde físicos aos verbais) aos representantes e membros das OSC, e tal se efectivou e vem se consubstanciando.
O afunilamento e fechamento do espaço cívico em Moçambique começou a ganhar corpo e foi se cimentando paulatinamente nas duas últimas décadas (sendo que cada década caracterizou-se por distintas acções de governação). Ataques, raptos, ameaças e assassinatos geraram uma grande onda de consternação entre as diferentes franjas da sociedade a nível nacional e internacional. O medo generalizou e muitos analistas e activistas enfrentaram a desacreditação do seu trabalho através da criação e difusão de narrativas depreciativas. Este exercício paulatino e sistemático de desacreditação primeiro silenciosa e depois barulhenta contra as OSC e seus membros lançou um debate sobre a relevância e irrelevância das organizações da sociedade civil, sobre a sua legitimidade, sobre o seu mandato, e sobre o seu raio de actuação, ou seja, a quem elas realmente servem e quem as empoderou.
As narrativas contra a sociedade civil são uma arma muito perigosa e eficaz, principalmente em sociedades como a nossa com níveis de educação baixos e uma crítica pouco ou nada elaborada. Não estamos diante de um fenómeno isolado em Moçambique, mas diante de uma estratégia usada em várias partes do mundo.
A dificuldade em lidar com ideias e posições diferentes faz com que uns se sintam mais donos da verdade e donos da razão que os outros. A vontade de fazer vingar determinadas ideias em detrimento das outras, cria fricções e atritos. E nisto emerge uma negatividade baseada no ódio e na violência gratuita
Mais de 45 anos após a conquista da independência, os fantasmas do passado nos perseguem e, devido a intolerância de uns e não pluralismo de outros, corremos o risco repetir a história mas com contornos e actores diferentes.
Amartya Sen no seu livro “Desenvolvimento como Liberdade” afirma inequivocamente que a condição primária para o desenvolvimento é a existência de liberdades. E mais adiante desenvolve a abordagem das capacidades, onde a chamada “liberdade negativa” (ausência de impedimentos) é contraposta à “liberdade positiva” (condições reais de exercício de um direito). E aqui nesta positivação das condições reais, entendo que devemos como sociedade promover mais as liberdades políticas, económicas, sociais, as garantias da transparência e a proteção da segurança. Assim daremos um passo qualitativo rumo a uma maior edificação de um Estado, instituições credíveis e livres de amarras ideológicas.
POR: Hélio Guiliche (Filósofo)
Moçambique - três gerações: Legados e Pecados

País ainda jovem mas cheio de história para contar entre algozes feitos de um passado heroico, a elevada expectativa do pós independência e a afirmação do multi-partidarismo.
Com a proclamação da independência de Moçambique a 25 de Junho de 1975, pelo então Presidente Samora Moisés Machel, uma nova página abriu-se para o país. Uma nova página que marcara o fim de anos de uma história de colonização e ocupação efectiva que até hoje apresenta marcas directas nos colonizados e indirectas nas gerações que se seguiram.
Uma geração tomou as rédeas da revolução, encabeçou as fileiras da guerra contra o colonialismo, abandonou suas famílias e juntou-se aos movimentos libertadores, aos treinos militares dentro e fora do país e fez das tripas-coração nos campos de batalha e conquistou a ferros a independência. Esta geração de jovens movidos pelo amor a pátria, pela disciplina da época, pela vontade de ser livre do jugo colonial, e pelo alto sentido de direito a auto-determinação. É uma geração que herdou os mais nobres ideais pan-africanos que eu chamo de independentista e libertadora.
O paradigma dominante nas décadas 50 e 60 do século XX, era sem dúvida o paradigma da libertação e das independências. A geração independentista que na sua larga maioria incorporou as fileiras do partido que comanda os destinos políticos do país; foi uma geração que de forma abnegada amou e serviu o país em tempos austeros; uma geração que camuflava suas ambições políticas e que nunca deixara que estas minassem o objectivo primário da luta de libertação. Porém, mais tarde veio a reclamar os louros da juventude emprestada ao serviço do país e da nação moçambicana. Realizou os sonhos de muitos heróis que tombaram na luta pela independência de Moçambique, e trouxe um fulgor e uma expectativa em relação ao que poderia ser o futuro.
O seu maior legado foi a abnegação e a entrega. O seu maior pecado veio a revelar-se nos erros advindos da falta de preparo para lidar com a realidade complexa do novo país nascido da luta de libertação e fragmentando em termos de unidade nacional. Um país diga-se sedento de se autogovernar e ávido pela autodeterminação. O fim da longa noite escura que foi a árdua luta pela independência significou muito para esta geração e não só, para o país no geral.
A geração independentista viveu um dos períodos mais desafiantes da nossa ainda incipiente história. A independência trouxera a substituição da máquina colonial portuguesa pela máquina estatal moçambicana, e diga-se ao abono da verdade, a geração fê-lo com num típico learning by doing. Mas como nenhum percurso é imaculado, cedo começaram as pequenas guerras de negação do outro e de toda a forma de pensar diferente; a luta pelo poder, a ambição e a sede por regalias e de uma maior influência no xadrez político e minaram o processo recém iniciado.
Seguiu-se a segunda geração que nasce, cresce floresce num ambiente de miscelânea entre a expectativa do pós independência depois da azafama épica vivida no estádio da Machava com a proclamação da a independência total e completa de Moçambique e os reais desafios da edificação primeiro da nação e depois do país. A segunda geração é filha ideológica da geração independentista e viveu a chamada atmosfera samoriana, bebeu os ideais proclamados pelo grande Marechal, seguiu os movimentos do associativismo e directivas do partido, a disciplina, o respeito da época, que tinha aparentemente tudo para singrar. Uma geração que experimentou em muito pouco tempo, a sagacidade da independência e a eclosão da guerra dos 16 anos – ouviu o ressoar das armas que mataram inocentes e destruíram as poucas infraestruturas existentes; Viveu nas longas filas das cooperativas familiares e conheceu as privações que a época transicional impunha e abraçou como ninguém o desejo de querer vencer. Esta geração lutou pelos ideias que recebera e foi escrava da narrativa independentista que se estendeu ao ódio visceral pelos que tentassem travar a revolução socialista. Chamarei esta geração de geração programada.
E por falar em revolução socialista, os anos que se seguiram a independência do país foram de uma actividade intensa de proclamação dos ideais socialistas e comunistas e de uma afirmação e difusão incisiva destes, ainda que no fundo não se percebia a essência do comunismo que apregoavam – Foi por assim dizer um período áureo da disciplina do Estado e porque não do partido. Não é de se estranhar que os filhos desta geração carreguem até hoje fortes traços ideológicos do seu berço de incubação. Geração jovem e enérgica, orientada para a acção e com ideias claras sobre a revolução e sobre os caminhos que o país deveria seguir, viu sua referência mór (Samora Machel) perder a vida no fatídico acidente de Mbuzini. Um duro golpe para as aspirações do país no geral e para todos os moçambicanos. Do dia para a noite esta geração se viu órfã do seu mentor e as dúvidas sobre as suas reais capacidades começam a emergir entre as fileiras.
A meio com uma morte trágica e uma guerra civil altamente devastadora, a geração programada enfrentou um dos momentos mais desafiantes da sua história, com sabotagens, traições e cisões no seio do mesmo grupo. Assumiu alguns dos desafios impostos pela época e emprestou seu fulgor para reconstruir o país ao mesmo tempo que buscava mais instrução, mais capacidade técnica e humana. Em termos de nível de preparo, com a fase da restruturação económica as fronteiras geográficas, ideológicas e políticas do mundo abriram-se e mais oportunidades emergiram tornando-a mais capaz e mais interventiva.
Geração que melhor personificou a ideia de nacionalismo e que criou a primeira burguesia emergente do país – uma burguesia que só conseguiu mostrar a avidez e ganancia pelo poder e dentes afiados para lutar pelo “tacho” depois do evento de Mbuzini; Produziu continuadores e brindou o país com lutadores, artistas, desportistas, músicos e muito mais. Cometeu erros como a primeira, tomou decisões que até hoje são questionadas, mas toda a revolução implica decisões, umas acertadas e outras equivocadas e descontextualizadas. Um dos seus grandes pecados foi não ter preparado os filhos para os desafios reais do país; talvez pelo excesso de zelo, talvez por mera soberba. Ao tentar evitar que seus filhos passassem por privações, acabaram lhes oferecendo mais do que podiam e deviam e hipotecaram muita coisa, parindo uma geração com uma mão cheia de nada.
A terceira geração é de relativamente difícil enquadramento e trato cronológico – representa síntese das duas anteriores. Escalando o país pelos seus pontos cardinais vamos descobrindo uma mesma geração dividida entre geração urbana e a rural, do cimento e do caniço, uma esteve mais exposta às benfeitorias e que sente o sabor do “tacho” e outra que passa ao lado do mesmo. A essa geração que alguém uma vez chamou de uma geração à rasca, nunca foi dada nenhuma responsabilidade objectiva.
O geograficamente identificado como grupo do cimento, da cidade foi obviamente o mais agraciado em termos de oportunidades e recursos que o outro grupo da zona de areia. O primeiro, para além de estar à rasca, é hipoteca dele mesmo – um grupo à deriva e órfão dos valores históricos, políticos e sociais do país. Para muitos destes jovens, a narrativa independentista não faz ecoar nada em si e os discursos da guerra dos 16 anos não são vinculativos a sua causa.
Encontramos na mesma geração dois grupos que dispôs de oportunidades diferentes, e consequentemente existe um abismo comportamental e aspiracional entre eles: Uns são os filhos da burguesia nacional incipiente com ar capitalista. Para além de lhe ter sido vendido e até oferecido o sonho do american life style, e todos valores da globalização ela adquiriu (in) conscientemente a ideia de que os pais devem prover tudo e a todo momento; uma geração que culpa aos outros pelo seu insucesso e pela falta de oportunidades e que vê o tempo passar ao lado dela mesma – Este grupo está a rasca sim e pior de tudo é que não sabe que está a rasca e que é resultado de uma agenda oculta.
Outros são filhos de camponeses e operários ciosos em triunfar e se tornar orgulho na zona de origem. Mas que as oportunidades lhes chegam a conta-gotas e porque tudo lhes foi difícil, contentam-se com muito pouco. Sonham em estudar na capital e ter um emprego no estado e poder mandar ajuda aos familiares espalhados pelo nosso vasto país.
E a culpa não é desta geração de jovens. Esta é vítima de um processo que paulatinamente tornou a máquina estatal deficitária e deficiente, o sistema quebrou-se, a ética, a moral e os costumes foram severamente abalados. Institucionalizaram-se praticas más e promoveu-se o laxismo estatal e por consequência o Estado desviou-se da sua missão primária que é prover o bem estar comum. A educação pública não é mais o que foi e por consequência ao invés de formar, informa e deforma.
A nossa pirâmide etária é maioritariamente jovem, e paradoxalmente vemos nela uma geração de jovens com preparo duvidoso e com enormes dúvidas em relação às suas capacidades. Uma geração que tem como referência tudo vem de fora e pouco de dentro. Somos jovens pobres e pertencemos a um país também pobre (ou pelo menos é nisto que nos fazem crer). Somos os jovens que acredita cegamente que para singrar na vida precisamos perseguir títulos, status, bens e posições, menos ideias.
Mas devemos lutar para sermos uma juventude com força motriz, uma geração livre intelectualmente que cria, transforma e participa no enredo do desenvolvimento integrado sem discriminação das cores partidárias, religiosas, raciais e ideológicas.
Esta é a síntese de três gerações de um país jovem e de jovens. Alguns mais estudados que os outros, mais ilustrados, mais experimentados e com melhor preparo, mas conformados, incapazes, e com medo de atingir a maioridade a que o país lhes convida a abraçar. Jovens que ancoraram seus sonhos em algum lugar. Seu maior pecado é não ir a luta e o seu legado fica entregue a sorte.
Por: Hélio Guiliche (Filósofo)
A institucionalização da mediocridade – relações de poder e dependência na nossa sociedade

É manchete um pouco por todo lado e é inclusivamente o tema mais candente do momento, e com maior incidência nas nossas redes sociais que com velocidade da luz espalham tudo o que é considerado matéria para internautas e consumidores e difusores acríticos de informação – o caso Matalane.
Foi noticiado que instruendas do curso de formação de polícias, terão sido abusadas sexualmente pelos respectivos instrutores e que pelo menos 15 delas se encontram grávidas. Este facto gerou uma onda enorme de consternação entre os mais sensíveis a questão do género, ética e deontologia e direitos humanos. Dois grupos de opiniões dominam os debates na imprensa, nas redes sociais e noutros fóruns: uns condenam veementemente as instruendas acusando-as de falta de carácter e de cultura, de ganho fácil e menor esforço durante os treinos. Outros atacam os instrutores considerando-os monstros que envergonham a corporação e o Estado moçambicano.
Nisto muita tinta corre e ainda não chegamos ao cerne da questão. As 15 instruendas não devem ser tratadas como números e na verdade não são números, mas entram na grande lista oculta de vítimas de forma silenciosa cede aos prazeres de quem acha que detém poder para atropelar a dignidade humana e subjugar os ditos fracos. A nossa indagação deve buscar as raízes destes comportamentos e tentar perceber o seu caminho para que se tenham fixado como parte da cultura institucional.
Este triste caso veio desvelar uma realidade ignorada por muitos. Irei chamar a essa realidade de promoção da mediocridade. Promoção da mediocridade colide com os esforços que há anos temos estado a lutar para construir instituições fortes, de direito, capazes e transparentes, instituições de respeito e de referência, mas que paradoxalmente caminham para uma gritante desumanização do Homem – no caso vertente este Homem é a mulher que ainda é vista como inferior e objecto de deleite e saciedade de prazer.
Não se pode ter instituições fortes quando existem homens fracos e medíocres que promovem o caos. São homens que colocam as relações de poder como base para tirar vantagem de outrem. Julgam-se acima da lei e dos princípios e que impelem a sociedade a aplaudir imoralidade, a coadunar com coisas erradas e a prostrar-se diante de actos abomináveis. As instituições que temos estado a construir são baseadas em leis e protocolos - essas leis e protocolos devem ser cumpridas por cada um de nós. Não se trata de falta de protocolos, nem de leis e muito menos de instrumentos reguladores. Trata-se de uma legitimação tácita e um atropelo sistemático acobertado por um grupo de pessoas que pretende perpetuar tais práticas e minar a imparcialidade a fortificação das instituições.
Numa organização que em princípio se guia por leis e procedimentos burocráticos torna a sua administração mais eficiente e eficaz e isso garante racionalidade no trabalho. É consabido que numa organização pública ou privada, o cumprimento normal e continuado dos deveres bem como o exercício de direitos correspondentes é assegurado por um sistema de normas e somente podem prestar serviços aquelas pessoas que segundo as regras gerais estão qualificadas para tal.
Estes traços remetem-nos as principais características da teoria da burocracia, cujo fundador foi Max Weber. De acordo com Weber a administração segue princípios baseados em documentos escritos como por exemplo a hierarquia de cargos, as competências de cada funcionário bem como a situação do funcionário de escalão inferior (subordinado). Os funcionários inferiores são controlados pelos funcionários superiores sem que isso constitua “chance” para os superiores se aproveitarem da situação do funcionário de escalão inferior. Max Weber defende ainda que as actividades exercidas pelo subordinado são garantidas por normas estabelecidas num Código de Penal que o defende dentre várias infrações os insultos, maus tratos, assédio sexual e etc.
A nossa indignação não pode se cingir apenas a Matalane, Munguine ou a outros centros de formação, mas sim a vários outros sectores da nossa sociedade como ministérios, escolas, universidades, bancos, e outras instituições públicas e privadas. Os abusos perpetrados pelos instrutores são uma réplica dos abusos que são igualmente praticados contra centenas de mulheres e raparigas nas escolas e universidades apenas a título de exemplo. O pretenso poder que o formador, instrutor e professor tem sobre os formandos faz com que se crie a cultura sexista na nossa sociedade – uma cultura que oprime, humilha e retira valor a mulher e a rapariga.
Mais preocupante ainda nessa relação de falso poder e falsa supremacia é a falta de cultura de denúncia e de responsabilização acompanhadas pelo medo exacerbado. Quando essa lucidez e coragem existe, os prevaricadores são protegidos pelos sistemas e em escala a impunidade cresce e a descrença sobre o real aumenta enfraquecendo assim o poder e valor das instituições. Não se trata de falta de aporte legal, muito menos de falta de instrumentos reguladores. Trata-se sim de uma mentalidade promíscua, pequena e oportunista que cria pequenos monstros que criam horrores contra inocentes.
Como sociedade somos chamados a reflectir sobre o valor e lugar da moralidade, da ética e da deontologia e sobre limites da concupiscência. Somos chamados a demandar por justiça e exemplar postura das instituições de justiça.
Hoje de viva voz, por um lado condenamos e por outro aplaudimos aquilo que julgamos ser politicamente correcto e socialmente aceitável. Sequer nos demos tempo para ficar no lugar do outro e tentar sentir a dor do outro, a dor daquela mulher que procurou formação e foi abusada por aqueles a quem confiou sua formação; a dor daquela mulher que depois de grávida a sociedade lhe chama nomes, isola e exclui. É preciso pensar e agir para que isto não aconteça de novo e que não levemos ao de leve algo tão profundo.
Na construção daquilo que queremos como sociedade, estamos a permitir que práticas condenáveis e desprezíveis entrem no nosso modus operandi. O nosso silêncio e consentimento pelo atropelo a lei é uma arma que mata milhares de mulheres e raparigas no nosso país e deixa marcas psicológicas que se manifestarão nas gerações que estão por vir.
O Moçambique do amanhã é e está dependente do que fazemos hoje. As mães abusadas, os filhos renegados e as mulheres violadas são a expressão mais sublime daquilo que consentimos com as 15 mulheres de Matalane e com os milhares de raparigas e mulheres espalhadas por todo o país que por conta da realidade adversa não dão rosto aos abusos sofridos.
Hélio Guiliche (Filósofo)
Cabo Delgado – Entre carnificina e a barbárie

É a província que hospeda a terceira maior baía do mundo; Província bafejada por acidentes geográficos únicos e com características morfológicas ímpares; Dona de uma paisagem turística sem igual e de regalar os olhos de qualquer um que a conhece. Rica e diversa culturalmente do planalto à planície, passando pelo vasto litoral maioritariamente virgem. É também lá onde existem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, rubis únicos e outras mais riquezas.
Pela riqueza abundante, o antigo Porto Amélia tinha condições para hipoteticamente ser o nosso Cabo da “BOA” Esperança, onde a bênção dos recursos poderia ser traduzida em esperança e prosperidade para a província e para o país que muito anseia pelo usufruto da sua riqueza.
Alguém a chamou de Cabo do Medo pelos horrores que lá se vivem desde 2017 com a incursão de insurgentes que ceifam indiscriminadamente vidas humanas, queimam casas, destroem infraestruturas, plantam pânico e luto nas comunidades e aniquilam sonhos de milhares de moçambicanos incluindo crianças e jovens. De lá para cá, a nossa província se transformou literalmente num campo de guerra – uma guerra inicialmente chamada de sem rosto e agora com rosto e identidade, onde diariamente nos chegam relatos de vidas perdidas, pessoas mutiladas e um futuro uma vez mais adiado não se sabe até quando.
A nossa linda província de Cabo Delgado, vive hoje um cenário desolador com ataques vindos de todos os lados e com o cheiro a morte presente em cada passo de cada cidadão. Hoje escrevo sem a habitual paixão e mergulhado num sentimento de impotência, consternação e angústia por não poder fazer objectivamente nada para mudar o rumo dos acontecimentos naquela parcela do nosso país. Mas com a força e o poder da escrita, espero poder influenciar positivamente a quem for a ler este curto texto de pedido de socorro.
Os reais inimigos de Cabo Delgado não são apenas os insurgentes que perpetram actos macabros e vis; Somos nós que de certa forma compactuamos por não dar a devida atenção à barbárie que lá se vive, e de ânimo leve alimentamos um silêncio ensurdecedor. Cabo Delgado demanda uma intervenção coerciva e de força por parte do Estado; precisa de uma mobilização colectiva e de uma intervenção social multissectorial urgente – e isto passa por repensarmos e reorganizarmos as nossas instituições para que se tornem mais fortes e responsivas. O Estado moçambicano precisa fundar um novo paradigma de defesa e segurança e garantir que a sua soberania seja respeitada.
Enquanto os refugiados de Cabo Delgado forem apenas números de pessoas em movimento para alimentar estatísticas dos demógrafos; Enquanto as mortes de inocentes (homens, mulheres, crianças e idosos) significarem uma ínfima e insignificante amostra de um todo que pouco se importa com o valor do outro; Enquanto o desprezo pela vida humana for característico de uma sociedade que se pretende mais humana e solidária mas que no fundo se comporta como egoísta e irracional; Enquanto não se assumir que cada vida que tomba em Cabo Delgado é menos um sonho comum, menos um actor para a concretização dos objectivos que temos como país, as coisas continuarão assim como estão e a chacina continuará.
Não vale a pena tentar minorar a situação de guerra que lá se vive, tampouco escondermo-nos em subterfúgios para justificarmos o nosso desejo de pouco ou nada fazermos, e de esperar que os outros o façam por nós. Se o país é de todos nós como se diz, todos devemos fazer parte dos momentos dele – sejam eles bons ou maus. E este é um daqueles momentos em que somos convidados a mostrar a nossa moçambicanidade . Não precisamos ir ao campo de batalha pegar em armas e disparar, nem mesmo em catanas e praticar a barbárie. Precisamos gerar ondas de solidariedade e melhorar a abordagem e começar a olhar para o outro e assumir que o outro é parte de nós. Precisamos como país e como nação fazer com que o nosso grito seja audível cá dentro e pelo mundo fora. Precisamos de um pouco mais de compromisso com a alteridade e um pouco mais de respeito pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos humanos que são violados a cada instante.
Quando ia escrever o último parágrafo, lembrei-me do refrão de uma canção que se tornou uma célebre referência durante a minha infância - Os meninos de Huambo – “Os meninos à volta da fogueira, vão aprender coisas de sonho de verdade; Vão aprender como se ganha uma bandeira; Vão saber o que custou a liberdade”.
Lembrei do quão criativa e inspiradora foi e é a canção, mas que infelizmente os meninos e meninas de Quissanga, Montepuez, Macomia, Nangade, Mocímboa da Praia, Palma, Namanhumbir e outros distritos de Cabo Delgado ainda não podem cantar. Os meninos e meninas de Cabo Delgado estão debaixo de um fogo que não aquece, mas queima e estão a aprender coisas de terror, de medo, e não conhecem neste momento o significado nem o valor real da liberdade e ainda correm o risco de ver uma nova bandeira diferente da nossa ser içada. Não são vitimas da colonização mas são uma versão moderna e a personificação de “Os condenados da Terra” de Frantz Fanon.
















