
Nando Menete
Praias de Maputo: quando limpar é sujar
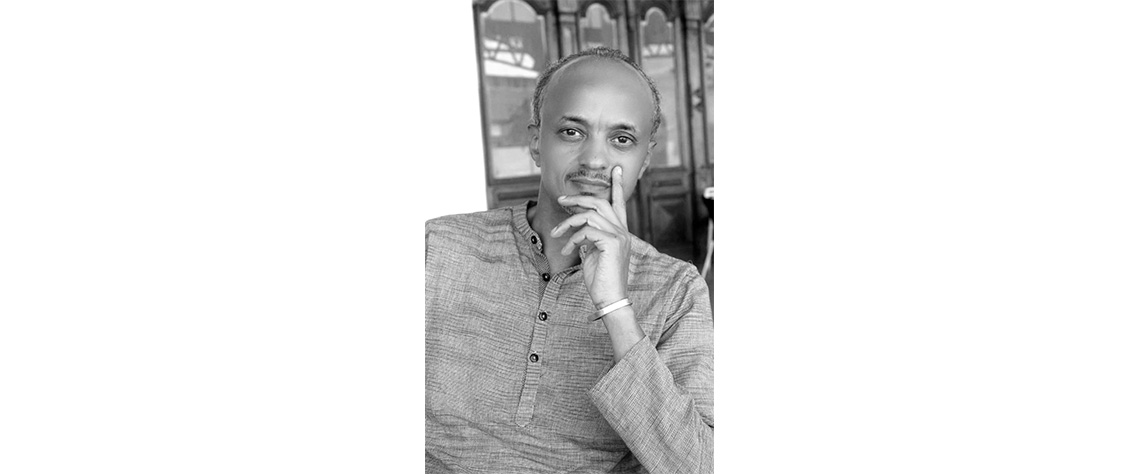
Um grupo de assaltantes de bancos depois de uma das suas incursões - das mais ousadas e lucrativas - delibera que a divisão do dinheiro seria feita no dia seguinte logo que soubessem do valor através da imprensa. Para eles não havia necessidade para tanta massada, pois alguém faria por eles. O mesmo raciocínio para a limpeza que é feita nas praias do Conselho Autárquico da Cidade de Maputo (CACM), sobretudo as situadas na Av. Marginal: porquê deixar limpa se alguém (associações/voluntários) virá limpar?
Num texto recente e sobre a cidade defendi que não se consegue combater os males e lutar pelo desenvolvimento da cidade sem a participação activa dos seus munícipes e visitantes. E de que uma “cidade bela, limpa, próspera e empreendedora” ( a visão do CACM) só seria possível ser alcançada quando os próprios munícipes (e visitantes) se apropriarem da cidade e no caso das suas praias.
O intróito foi a propósito da realização (30 de Janeiro) da primeira auscultação pública da proposta de postura sobre a protecção, gestão e utilização da costa de Maputo e em particular das jornadas regulares/sistemáticas e pontuais de educação cívica e de limpeza que são feitas tendo como epicentro as praias de Maputo. Pelo que se consta o resultado não difere do da Ajuda Pública ao Desenvolvimento: os respectivos destinatários resistem veementemente aos esforços empreendidos por quem quer ajudar. Alguma coisa não está a bater bem. O que será?
Creio que a abordagem que é feita devia ser alterada. A boa vontade e os recursos existentes deviam ser reorientados/centrados na capacidade municipal de encaixe e recolha do lixo (recipientes e transporte) nos pontos previamente definidos. Quanto a limpeza ao longo das praias que ficasse uma responsabilidade cívica dos seus utentes. Estes - na sua maioria frequentadores cativos - seriam os próprios protagonistas e fiscais do asseio da praia.
Em resumo e uma dica para a postura em elaboração: recolher apenas o lixo depositado nos pontos definidos e o resto deixar ao critério dos utentes. Do caos pode emergir a ordem. Mboralá experimentar!
Embarquei Mulatinho, desembarquei Neguinho
 Em tempos infanto-juvenil o Brasil – o país do futebol, da mulata e do samba - representava, no meu imaginário, uma terra que também era minha. O colorido da sua miscigenação era o íman e o “verde e amarelo” da bandeira a marca identitária. Na verdade e à distância do olhar do tempo: o Brasil era o país para um provável pedido de Asilo Político - “instituição jurídica que visa a protecção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais”.
Em tempos infanto-juvenil o Brasil – o país do futebol, da mulata e do samba - representava, no meu imaginário, uma terra que também era minha. O colorido da sua miscigenação era o íman e o “verde e amarelo” da bandeira a marca identitária. Na verdade e à distância do olhar do tempo: o Brasil era o país para um provável pedido de Asilo Político - “instituição jurídica que visa a protecção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais”.
À época - anos 80 - era normal que as querelas do bairro desembocassem em palavreado hostil sobre o tom da pele de cada um. A mim e a outros com o tom de pele semelhante era dirigido o inevitável: Mulato não tem bandeira/não tem pátria. E a resposta era automática: a nossa bandeira/pátria é “verde e amarelo”.
Anos depois - no início do actual século - tive a oportunidade de viajar ao Brasil. Afortunadamente por nenhuma das razões que justificasse um pedido de asilo. Mas e por outras razões afins/contrárias, nomeadamente: as de combate à ordem mundial (então e ainda prevalecente) que criam e alimentam as condições para que os pedidos de asilo continuem na ordem do dia.
No dia da partida - depois da praxe das despedidas caseiras e cercanias - fui ao aeroporto no limite do tempo. Desço do táxi e um bagageiro - notando a minha aflição - pergunta: “Mulatinho, posso carregar a pasta?”. Ainda não lhe tinha respondido, lá tratou de fazê-la chegar ao ponto do “check-in”. Na despedida e com o peso da amável gorjeta o bagageiro sorriu e dedicou uma “boa viagem mulatinho”, terminando com a típica (e enciumada) recomendação (que é sempre dada à quem vai ao Brasil): não se distraía só com o futebol e o samba. É preciso completar a tríade.
No Brasil , concretamente na cidade de Porto-alegre, fui convidado a uma “peladinha” de basquetebol. Em pleno jogo eu fui ouvindo, entre outros, “corta ai, Neguinho” e “cuidado com o Negão”. Depois de um certo tempo – e até então não entendera nenhuma jogada - é que me apercebo que o “Neguinho” era eu e o “Negão” , um cara adversário e bem corpulento que para as minhas lentes do índico era mais para branco do que para mulato ou negro. De “Negão” apenas delatado por algumas características físicas no rosto que lhe expediam (os brasileiros) para a África.
No avião e de regresso à Perola do Índico veio-me à memória as brigas que sempre - na ausência de argumentos - culminavam no tom da pele. Assim foi até ao dia em que Mia Couto, escritor moçambicano, deu outro sentido ao debate, escrevinhando: “Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é uma raça…” .
Do discurso ao novo governo: expectativas, conclusões e lições aprendidas
 No banquete por ocasião da investidura do Presidente da República (PR), o investido, Filipe Jacinto Nyusi, proferiu alguns pronunciamentos que despertaram a curiosidade dos que acompanham a vida política nacional, mormente quanto a composição do novo governo. Pairou a ideia de que na composição do novo governo o PR não se contentaria com o “balneário partidário”, abrindo alas para o “ balneário da sociedade “ que é, quiçá, mais vasto e nas palavras do PR: de altíssima qualidade.
No banquete por ocasião da investidura do Presidente da República (PR), o investido, Filipe Jacinto Nyusi, proferiu alguns pronunciamentos que despertaram a curiosidade dos que acompanham a vida política nacional, mormente quanto a composição do novo governo. Pairou a ideia de que na composição do novo governo o PR não se contentaria com o “balneário partidário”, abrindo alas para o “ balneário da sociedade “ que é, quiçá, mais vasto e nas palavras do PR: de altíssima qualidade.
Abaixo e de forma breve, partilho um apanhado do que foram as expectativas, conclusões e lições aprendidas a partir de excertos do “ Discurso de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, no Banquete oferecido por ocasião da Sua Investidura como Presidente da República” vis-à-vis a composição do novo governo.
- Expectativas
- “ Sou imune a todas as pressões, embora em democracia, elas sempre existam. A única pressão que pesou em mim, foi o interesse nacional de Moçambique.”: esta parte do discurso gerou a sensação de que o novo governo seria imune à pressões, sobretudo as de ordem partidária na escolha dos ministros e em defesa da unidade nacional, o superior interesse nacional;
- “É verdade que sou Presidente da FRELIMO, mas também é mais verdade que a Presidência da República não é um cargo partidário”: deste entendimento , a esperança de que o novo governo também não seria um órgão partidário;
- “Mais de 60% dos membros do Governo serão novas caras,(…), mas porque o balneário moçambicano é de altíssima qualidade...”: desta afirmação a certeza de que estes 60% seriam quadros fora do partido do PR.
- Conclusões
“O Estado não se esgota no governo, como muitos pensam. Há várias posições relevantes no tão diverso quadro institucional de Moçambique. Esse quadro diversificado pede o concurso do talento e da experiência de um amplo leque de quadros, cuja vontade seja servir Moçambique./O meu governo irá capitalizar esses talentos nacionais… ”: com o anúncio do novo governo ficou patente, fora o entendimento contrário, que o grosso ou a totalidade dos membros do governo é formado por membros do partido do PR. O resto que aguarde a possível chamada para as outras posições relevantes fora as do governo.
- Lições aprendidas
“…A inclusão é muito mais do que a acomodação de um grupo restrito de compatriotas, seja qual for a sua origem. Incluir é ouvir os que pensam diferente. Incluir é dar oportunidades iguais a todos, é exercer justiça social, é promover o emprego.”: fora os cargos, para o PR o moçambicano é convidado “…a participar com o seu saber, experiência e espírito crítico no processo de identificação de soluções para os desafios que os moçambicanos irão enfrentar no próximo quinquénio” (discurso da tomada de posse)
Em suma, nada esta perdido e as expectativas transitaram para o preenchimento das vagas do governo em falta e ainda dos cargos por preencher de muitas outras posições relevantes do quadro (refeitório?) institucional moçambicano. Quem sabe se no que falta preencher e em tempo de compensação o PR marque um golo na própria baliza.
A “mão externa” e outros órgãos
 Em Moçambique é normal que o Poder recorra a expressão “mão externa” para acusar as organizações da sociedade civil moçambicana de estarem (e existirem) ao serviço de interesses estrangeiros, sobretudo do Ocidente. Pelo que se crê o móbil da acusação é o facto de estas organizações receberem doações/financiamento do Ocidente e de supostamente no verso do cheque constar uma agenda do que fazer . Sobre a acusação - e do mesmo jeito que o acusador também bebe (e bem antes) da mesma fonte - já diz o ditado: quem fala assim não é gago (risos).
Em Moçambique é normal que o Poder recorra a expressão “mão externa” para acusar as organizações da sociedade civil moçambicana de estarem (e existirem) ao serviço de interesses estrangeiros, sobretudo do Ocidente. Pelo que se crê o móbil da acusação é o facto de estas organizações receberem doações/financiamento do Ocidente e de supostamente no verso do cheque constar uma agenda do que fazer . Sobre a acusação - e do mesmo jeito que o acusador também bebe (e bem antes) da mesma fonte - já diz o ditado: quem fala assim não é gago (risos).
Trouxe a expressão (mão externa) à mesa, não para debruçar sobre acusações, mas para partilhar algumas considerações que se prendem com o seu alcance ( e dos órgãos adiante) e a razão da escolha da mão (externa) e não de um outro órgão do tipo, por exemplo: coração , estômago ou cérebro.
Imagino que se tenha recorrido a este termo (mão externa) porque dos dedos da mão sai a assinatura do cheque. Dos mesmos dedos a direcção a dar ao valor inscrito. E também – a parte dolorosa – dos mesmos dedos sai um gesto que se assemelha com o nome de uma fruta da corrente época. Deste gesto e por ter recorrido à empréstimos na calada da noite, o país ainda se ressente da sua profundidade.
Uma outra expressão e com a mesma intenção acusatória de “ mão externa” com o tempo saiu de moda. Era a não menos famosa “mão invisível”. A razão por ter saído de moda talvez fosse porque as ditas agendas escondidas deixaram de ser segredo e em nome da transparência passaram para o fórum público de tal sorte que é perfeitamente identificável o dono da dita “mão externa”: os países do Ocidente que condicionam o seu apoio à questões de ordem política e económica.
Para o apoio recebido de outros países - caso da China - o termo (mão externa) não é aplicável, pois a China – pelo o que se consta da fala oficial – não condiciona a sua ajuda à nenhuma imposição de natureza política ou económica. Enquanto que o apoio do Ocidente é considerado mau, o da China é bom. Neste contexto, uma expressão adequada para caracterizar a abordagem da ajuda chinesa e recorrendo a outros órgãos do corpo humano e de tão amorosa a ajuda chinesa, quem a recebe devia ser acusado de “coração externo”.
O denominador comum e o culpado da dependência externa é um outro órgão: o estômago. Este (já interno/nacional) ainda não se libertou dos hábitos e costumes gastronómicos coloniais e pelos dias que correm, os da globalização . Para ilustrar chamo a atenção de uma entrevista (dada depois da independência) de Ricardo Rangel, o saudoso fotojornalista moçambicano, que perguntado sobre o que mais gostava de comer respondeu que adorava um bom cozido à portuguesa. E em seguida lamentou que o seu estômago não se tenha descolonizado. Presumo que não tivesse sido matéria da agenda do processo de descolonização.
A par do estômago está o cérebro. Isto para falar do último órgão (também interno/nacional). Não é segredo para ninguém que o grosso da literatura (científica e religiosa) que alimenta (doutrina) o cérebro da Pérola do Índico é externa e boa parte proveniente das fontes do apoio. Logo e a partida: um órgão exposto, vulnerável e à reboque da “mão externa” e do “coração externo”.
Nestas circunstâncias - diante das incursões externas ( da mão e do coração) e da capitulação interna (do estômago e do cérebro) – haverá alguma luz no fundo do túnel? Acredito que haja e tenho fé que um outro órgão e local (devidamente identificado) venha à terreiro em socorro da Pérola do Índico .
2020: mais uma vez ninguém conta contigo…e assim não vai dar certo
 Temo que o próximo mandato inicie e o PR (Presidente da República) não ache ninguém para os cargos a nomear e muito menos para ser governado. A razão? É muito simples: em Moçambique ninguém conta que o outro e semelhante esteja vivo. Basta que um e um outro não se avistem para que se considerem parte das estatísticas de “lhanguene” (cemitério). E sobre tal - na passada quadra festiva - tirei as dúvidas atinentes, sobrando o receio de que em 2020 o país não volte a dar certo, simplesmente – e mais uma vez – porque não conta contigo. Já explico.
Temo que o próximo mandato inicie e o PR (Presidente da República) não ache ninguém para os cargos a nomear e muito menos para ser governado. A razão? É muito simples: em Moçambique ninguém conta que o outro e semelhante esteja vivo. Basta que um e um outro não se avistem para que se considerem parte das estatísticas de “lhanguene” (cemitério). E sobre tal - na passada quadra festiva - tirei as dúvidas atinentes, sobrando o receio de que em 2020 o país não volte a dar certo, simplesmente – e mais uma vez – porque não conta contigo. Já explico.
No ano passado fui alertado - por um amigo da terra na diáspora - a propósito do jeito dos moçambicanos cumprimentarem-se, mormente depois de algum tempo sem contacto. Ele contara que todos os anos que passa as suas férias no país e sempre que se cruza com um amigo este mal esconde o espanto, expelindo o típico: “Hei, estás vivo, pah!?”. No papo e quando arrolado o nome de um amigo comum, um outro e sonoro assombro: “Hei, esse tipo tá vivo!? Pensei que já tivesse bazado”. E por ai avante, passando pela minuciosa revista dos que verdadeiramente partiram. E não prolongo, pois acredito que o estimado eleitor bem conhece o assunto e certamente é parte deste modo de estar à moçambicana.
Na última quadra festiva - um bom momento de encontros ocasionais entre conhecidos que não se comunicam há algum tempo – fiquei muito atento a este fenómeno e a conclusão foi aterradora: é geral (e preocupante) a estupefacção mútua pelo outro estar “Vivinho da Silva”. E dito isto, abro uns parênteses: perdoe o “teu amigo de peito, teu camarada” que bem acomodado no poder não se tenha lembrado de ti no último mandato. E já agora: faço votos de que na quadra festiva tenha estado “ocasionalmente” com ele. E para os que pensam em altos voos no próximo mandato - e em jeito de atenção a chamada - vai um aviso à navegação: só resta uma semana para a tomada de posse do PR.
Voltando ao amigo que me alertara para este fenómeno, perguntei-o - na altura - como era pelas terras do Ocidente (o dito mundo desenvolvido), local onde ele assentara arraiais. Fiquei a saber que por aquelas bandas e nas mesmas circunstâncias – encontros ocasionais depois de um certo interregno - os avistados questionam-se mais ou menos nos seguintes termos: “Então, esses projectos?”. Um detalhe, mas substancial e quiçá a nota que diferencia o ritmo do desenvolvimento entre o grosso do Ocidente e o país.
Será por aqui que o país - há mais de quatro décadas - não dá certo? Não sei, mas seja como for é recomendável e urge que se inverta a prática dos cumprimentos à moda moçambicana. Assim - e nesta década que se inicia – vai uma dica: quando o estimado leitor encontrar alguém que não se avistam há algum tempo não se admire que ele esteja vivo. Pelo contrário. Pergunte: “Então, esses projectos?”
Tenho fé e acredito piamente que deste modo o estimado leitor estará a contribuir para que este país - a partir de 2020 - não seja mais um dejecto à maneira das caracterizações de Donald Trump, PR norte-americano, mas um projecto e sério de desenvolvimento de e para vivos. Quem sabe se assim e contigo (bem vivo, naturalmente) o país possa dar certo.
Um apelo para 2020: quem ajuda o país a localizar o endereço do desenvolvimento?
 Uma das maiores dificuldades (e quotidiana) dos moçambicanos prende-se com a localização de um determinado endereço físico. Acredito que o leitor já esteve inúmeras vezes na situação de explicar a alguém ou a de ser explicado (sobretudo ao telefone) onde se localiza determinado sítio. Imagino a dificuldade enfrentada por ambos sobre algo que a partida parecia óbvio. Nesta situação é normal que se desista ou se recorra a outra (s) pessoa (s) tanto do lado de quem explica como do aquém é explicado. E mesmo assim: da mata densa não sai nenhum coelho.
Uma das maiores dificuldades (e quotidiana) dos moçambicanos prende-se com a localização de um determinado endereço físico. Acredito que o leitor já esteve inúmeras vezes na situação de explicar a alguém ou a de ser explicado (sobretudo ao telefone) onde se localiza determinado sítio. Imagino a dificuldade enfrentada por ambos sobre algo que a partida parecia óbvio. Nesta situação é normal que se desista ou se recorra a outra (s) pessoa (s) tanto do lado de quem explica como do aquém é explicado. E mesmo assim: da mata densa não sai nenhum coelho.Jean Boustani e a ajuda ao desenvolvimento: o mesmo modus operandi
 Do tribunal distrital de Brooklyn, cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América, ficamos a saber, segundo a acusação americana, que Jean Boustani um gestor sénior de uma empresa estrangeira relacionada com as ditas dívidas ocultas é um Robin Hood de avesso. Este ficou famoso por tirar dos ricos para dar aos pobres. Por sua vez, Boustani, entre outros, por ter sido acusado (e já absolvido) pelos americanos de tirar dos pobres (moçambicanos) para dar aos ricos de várias nacionalidades, incluindo a moçambicana.
Do tribunal distrital de Brooklyn, cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da América, ficamos a saber, segundo a acusação americana, que Jean Boustani um gestor sénior de uma empresa estrangeira relacionada com as ditas dívidas ocultas é um Robin Hood de avesso. Este ficou famoso por tirar dos ricos para dar aos pobres. Por sua vez, Boustani, entre outros, por ter sido acusado (e já absolvido) pelos americanos de tirar dos pobres (moçambicanos) para dar aos ricos de várias nacionalidades, incluindo a moçambicana. Cadê o Povo?
 Não tem sido fácil localizar o povo. Já lá vão os tempos em que o povo era todo o moçambicano do Rovuma ao Maputo. Bastava estalar os dedos e lá estava o povo no local e hora da chamada para mais uma jornada de construção do Homem Novo. Sobre a dificuldade em localiza-lo que o diga o Doutor Fofa, um militante-mor e consultor-turbo da sociedade civil, que numa das suas expedições pelo país procurou o povo para nutri-lo de conteúdos da nação e recolher da base as sensibilidades mais fortes para serem esmiuçadas no topo.
Não tem sido fácil localizar o povo. Já lá vão os tempos em que o povo era todo o moçambicano do Rovuma ao Maputo. Bastava estalar os dedos e lá estava o povo no local e hora da chamada para mais uma jornada de construção do Homem Novo. Sobre a dificuldade em localiza-lo que o diga o Doutor Fofa, um militante-mor e consultor-turbo da sociedade civil, que numa das suas expedições pelo país procurou o povo para nutri-lo de conteúdos da nação e recolher da base as sensibilidades mais fortes para serem esmiuçadas no topo.
A tal expedição - relacionada com o fortalecimento da cidadania – iniciara com um seminário central por si ministrado e dirigido às organizações da sociedade civil sedeadas na capital do país e de âmbito nacional. No final e face a importância dos conteúdos os participantes recomendaram que os mesmos fossem levados para as províncias, locais “onde está o povo”.
Uns tempos depois foram programados e realizados os seminários provinciais. Nestes ficou assente e sugerido pelos participantes que o assunto também fosse levado aos distritos, pois é “onde está o povo”. Não tardou os seminários distritais foram programados e realizados. As organizações e plataformas distritais presentes concluíram e aconselharam que se devia descer para os Postos Administrativos, pois é “onde está o povo”. Nos Postos Administrativos a observação foi de que se levasse o assunto às localidades, pois é aqui “onde está o povo”.
Já exausto e sempre solícito para mais uma expedição - e desta vez às localidades e ao encontro do que seria finalmente o povo - o Doutor Fofa equaciona e opta por uma breve paragem de relaxamento numa das paradisíacas praias deste país.
Depois do descanso o Doutor Fofa decide que se retiraria da unidade hoteleira depois do almoço e logo que acabasse um dos serviços noticiosos de uma das estações de televisão. Para o seu espanto e numa reportagem da TV um participante de um seminário - que por coincidência decorria numa localidade deste país - sugeria aos organizadores que se criassem condições logísticas para levar o assunto em pauta para “lá na base”, nos sítios mais recônditos que é “onde está o povo”.
O Doutor Fofa não aguentou e caiu em resposta clara a um fulminante Ataque Vascular Cerebral (AVC). Felizmente sobreviveu e teve que regressar a capital e aqui – enquanto se recuperava e para matar o bichinho dos seminários – resolve frequentar seminários locais. Um dia desses decide participar numa auscultação pública sobre o processo de encerramento da Lixeira do Hulene que decorreu no bairro do mesmo nome e localizado no Distrito Municipal Ka Mavota. Para a sua estupefacção, nessa auscultação pública, um jovem - visivelmente agastado - disse aos presentes o que abaixo cito:
“Parte dos problemas que o lixo está a causar em Hulene é um problema que não é do bairro (Hulene). É um problema que vem da base (se referindo e apontando em direcção ao Distrito Municipal Ka Mpfumo, o centro da capital), pois o povo de lá não se comporta com urbanidade, vulgo civismo, porquanto misturam e deitam todo o tipo de lixo na via pública e nessa condição (misturado) o mesmo é transportado para cá”.
Enquanto o jovem continuava a expor os seus argumentos o Doutor Fofa foi transportado para uma unidade hospitalar próxima. Desta vez fulminado por um outro tipo e recomendado AVC: Ataque de Vergonha na Cara.
Devolver a cidade aos seus munícipes
 A cidade de Maputo - por sinal a capital do país - completou, no passado dia 10 de Novembro, 132 anos de elevação à categoria de cidade. Não acompanhei os festejos, mas acredito que tenham sido à altura da idade. Embora não tenha estado por cá no dia da festa a data não me passou despercebida. Em algum momento do dia 10 reflecti sobre a cidade que um dia foi a das acácias. Em conversa com um amigo, este desafiou-me a responder aos problemas da cidade na qualidade de Edil. E eu – sem pestanejar – respondi: “devolver a cidade aos seus munícipes” seria a primeira medida. E a eleição do chefe de quarteirão a primeira acção da medida.
A cidade de Maputo - por sinal a capital do país - completou, no passado dia 10 de Novembro, 132 anos de elevação à categoria de cidade. Não acompanhei os festejos, mas acredito que tenham sido à altura da idade. Embora não tenha estado por cá no dia da festa a data não me passou despercebida. Em algum momento do dia 10 reflecti sobre a cidade que um dia foi a das acácias. Em conversa com um amigo, este desafiou-me a responder aos problemas da cidade na qualidade de Edil. E eu – sem pestanejar – respondi: “devolver a cidade aos seus munícipes” seria a primeira medida. E a eleição do chefe de quarteirão a primeira acção da medida.
Paradoxalmente nos tempos do partido único o chefe de quarteirão era eleito e nos tempos da democracia multipartidária – dos dias que correm – o mesmo é apontado para o cargo (suponho pelo Município) sob critérios que não se conhecem. Existem casos em que dois ou mais quarteirões são chefiados pelo mesmo chefe. Urge que se recupere as boas práticas. A democracia nas autarquias não se esgota na eleição do Edil e ainda mais através da lista (que o mesmo encabeça) do partido ou grupo cívico que o suporta.
Tenho fé de que uma "cidade bela, limpa, segura, empreendedora e próspera" (a visão municipal da cidade) só será possível alcançar quando os próprios munícipes se apropriarem da cidade. Não se vai combater os males e lutar pelo desenvolvimento da cidade sem a participação activa dos seus munícipes. E para tal “devolver a cidade aos seus munícipes” devia merecer a devida atenção dos munícipes e dos seus governantes. Por tabela os baixos índices de participação eleitoral e de interesse pela governação autárquica podiam ser invertidos com a devolução da cidade aos seus munícipes.
Estendo a minha fé ao alcance do que - em tempos - um colega disse a propósito da escolha do chefe da comissão organizadora e dos desafios de gestão de uma festa da universidade: “Não se pode entregar a organização da festa de recepção de caloiros a alguém que nunca deu festa do seu próprio aniversário natalício”. O mesmo penso - acreditando que a eleição do chefe de quarteirão seja uma realidade a breve trecho – que para a gestão de um Município conste nos requisitos ou nos próprios CVs dos candidatos a Presidente de Município a gestão de um quarteirão.
Vítimas da Democracia
 Na senda das recentes eleições dei por mim a pensar no que um amigo sindicalista disse-me uma vez – e passam anos - sobre a maldade da democracia. A tal malvadez era a própria democracia traduzida na alternância governativa, sobretudo, a decorrente da limitação de mandatos.
Na senda das recentes eleições dei por mim a pensar no que um amigo sindicalista disse-me uma vez – e passam anos - sobre a maldade da democracia. A tal malvadez era a própria democracia traduzida na alternância governativa, sobretudo, a decorrente da limitação de mandatos.
“O meu antigo chefe é uma vítima da democracia”. Com estas palavras e enquanto indicava para mim o seu antigo chefe, o meu amigo sindicalista dava por concluída a narração do historial da exemplar governação do seu ex-superior que se viu na contingência estatutária de abandonar o cargo depois de cumprir o limite de dois mandatos.
“Um bom chefe e o melhor que a instituição conheceu, mas, infelizmente, a democracia impediu a sua continuidade”. Foram as outras palavras do meu amigo sindicalista e ditas com profunda e dolorosa amargura. Para ele a democracia devia ser como no futebol: em equipa que ganha não se mexe (e nem se põe à prova).
Este episódio veio-me à memória à corrente das reflexões corriqueiras atinentes às últimas eleições, notadamente os seus contornos a ponto dos mesmos terem ditado - eventualmente - a goleada infringida pela Frelimo aos seus opositores. Em resultado desse desfecho, tenho ouvido - amiúde e com algum desassossego - que o país devia abandonar a democracia pluralista e voltar à democracia de partido único e terceiro-mundista das pós-independências.
Sendo assim – face aos resultados retumbantes e aos subsequentes prognósticos do “back to the past” - quem seria(m) a(s) vítima(s) da democracia? A oposição que não se impôs? Os eleitores (que votaram na oposição e/ou que não tenham ido às urnas)?O Ocidente (os patronos da democracia)? Ou os vencedores das eleições (os candidatos e os respectivos votantes)?
Procurei pelo meu amigo sindicalista (hoje um devoto democrata) que para o caso em apreço disse bem alto e em bom-tom: “Os vencedores é que são as vítimas da democracia”. Em defesa da sua posição argumentou que uma equipa que sempre ganha cansa. E por perto - não alheio à conversa - um outro amigo e das hostes dos vencedores, questiona: “Cansa ou dança?” E o primeiro – com uma dose de sarcasmo - retruca: “Um dia desses, dança!”
E cá entre nós - a fechar - e bem na pele das metamorfoses democráticas do amigo sindicalista: o ser ou não ser uma “vítima da democracia” é uma questão que retumba a um dilema shakespeariano. Ademais e à luz das adaptações “workshopistas” do Doutor Fofa (um militante e consultor-turbo dos meandros da sociedade civil): dançar ou indagar, eis a questão.
















