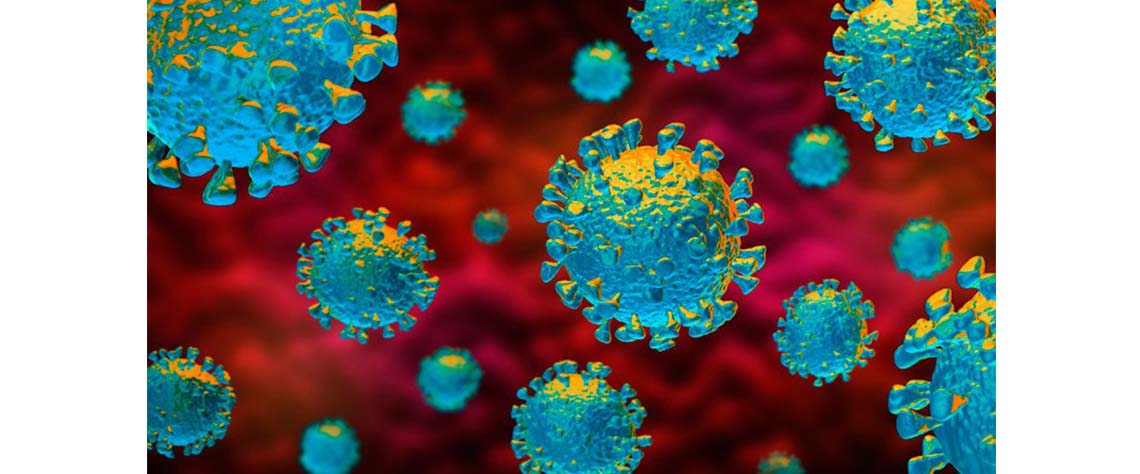
Até ao momento (por enquanto), o impacto da epidemia na África ao sul do Saara não se deve a caos e mortes provenientes do COVID-19, mas às medidas restritivas introduzidas para controlar a infecção.
Massacre, apocalipse e carnificina são agora palavras comuns para descrever o impacto esperado do COVID-19 na África subsaariana. O jornalismo mais actual utiliza esses termos para electrificar os seus leitores. As razões para essas previsões são intuitivas: pobreza, megalópoles feitas de bairros de caniço, alta prevalência de HIV na população, fragilidade dos sistemas sanitários; e é apenas uma parte da lista. A receita para a catástrofe está pronta para ser servida, basta aguardar a chegada do fósforo (o vírus) e observar o fogo: tudo à sua volta irá queimar.
O SARS–CoV–2 responsável pelo COVID-19, a diferença do coronavirus do SARS e MERS, chegou à África subsaariana e agora temos alguns números que nos permitem algumas observações. Desde do dia 13 de Março recolhi do site worldometers.info/coronavirus/ os dados relativos à região africana ao sul do Saara (na qual se inserem também algumas ilhas do Oceano Índico, para além do Madagáscar), Os dados – casos, óbitos e testes realizados para o COVID-19 – foram recolhidos às 7 horas da manhã, hora italiana. A actualização mais recente é de 12.04.2020.
|
Os casos de COVID na África subsaariana passaram de 37 para 7.968, os óbitos (que apareceram no dia 22 de Março) passaram de 6 para 179. Transformadas em taxas de incidência e mortalidade específicas e referentes à população subcontinental global, aproximadamente de 1 bilhão, são 8 casos por milhão e 0,2 mortes por milhão. As taxas globais de notificações são 228 por milhão e 14 por milhão, respectivamente. O país mais afectado neste momento (Espanha) regista 3.500 e 355 por milhão, respectivamente.
A África subsaariana regista abaixo de 1% dos casos registados no mundo: 0,45% dos casos e 0,16% das mortes. A taxa de mortalidade dos casos africanos é estável em torno de 2%. De 27 de Março até hoje, o aumento médio de casos (incluindo óbitos) foi de 370 casos/dia, com flutuações significativas. Dentro do subcontinente, surgiram com maiores notificações os seguintes países que mantiveram a sua posição (levantamento de 12 de Abril):
África do Sul = 2.028
Camarões = 820
Costa do Marfim = 533
Níger = 491
Burkina Faso = 484
Gana = 408
… todos os outros registaram menos de 400 casos.
Os grupos de óbitos foram localizados da seguinte maneira:
Burkina Faso = 27
África do Sul = 25
RDC (República Democrática do Congo, Congo-Kinshasa) = 20
Camarões = 12
Níger = 11
… todos os outros menos de 10 óbitos.
Cerca de 15 países – alguns com grandes faixas populacionais como Uganda e Moçambique – ainda não relataram óbitos. |
Existe uma conclusão após esta apresentação? Apenas a seguinte: a capacidade destes números de reflectir a tendência real da pandemia na África ao sul do Saara é extremamente duvidosa. Este problema reflecte a fraqueza dos sistemas de informação de quase todo o subcontinente, concretamente a sua baixa cobertura e qualidade. Eles são limitados principalmente – talvez com exepção de África do Sul e, ao que parece, de Gana e Maurícias, pela rede de laboratórios capaz de realizar o teste para o COVID-19, actualmente instalada sobretudo nas capitais (na RDC, 80 milhões de habitantes, o único laboratório encontra-se em Kinshasa e o envio de amostras provenientes das províncias encontra dificuldades insuperáveis; a mesma situação repete-se em todos os grandes países). Os países também são limitados pela disponibilidade de reagentes e pela eficiência dos laboratórios (número de testes realizados por dia). Com estas premissas, a subnotificação está garantida.
O verdadeiro problema é que não temos uma ideia do nível de subnotificação, ou seja, dos casos clínicos reais (incluindo óbitos) nem do número de portadores assintomáticos. Podemos apenas afirmar que, de acordo com os dados oficiais – após um mês de propagação – a pandemia não está na África ao sul do Saara de magnitude comparável àquela vivida em pontos quentes (China, Irão, União Europeia, e EUA). A título de exemplo, os dados do subcontinente em números absolutos (e não em taxas, que são enormemente menores) correspondem a dados de pequenos países como Noruega ou Irlanda, que têm populações em tornos dos 5 milhões de habitantes e encontram-se pouco afectados pela pandemia em relação à média da UE.
A interpretação de tudo isto deve ser procurada em três factores:
- Grave subnotificação;
- Desenvolvimento mais lento da epidemia;
- Menor incidência “real” de óbitos em comparação com outras áreas do planeta, pela mesma duração da epidemia, devido à peculiaridade do contexto africano.
Não sabemos se haverá uma melhoria na notificação ao longo do tempo, por exemplo, aumentando a disponibilidade dos testes, a rede de laboratórios e a logística. Somente neste caso os dados oficiais começarão a sua lenta marcha para se aproximar da realidade. No entanto, a experiência da UE mostra que, mesmo com sistemas de informação testados, os dados oficiais são controversos devido à baixa padronização. É prudente supor que por muito tempo haverá uma forte lacuna entre os dados oficiais e a situação real da pandemia. Todos os cenários permanecem, abertos, sem uma resposta clara. Não é possível basear esperanças nesses números, mas também não podemos enunciar catástrofes com tranquila serenidade.
No entanto existem reflexões que podem ignorar os números.
1. A lista de factores de protecção e de factores desfavoráveis para os povos do subcontinente perante o COVID-19 é longa e apenas parcialmente conhecida. Temos a favor: estrutura demográfica caracterizada por uma população jovem menos exposta a formas graves de infecção, a dispersão do território e a baixa mobilidade de uma boa percentagem de habitantes, factores ambientais como temperatura, humidade e radiação UV (possíveis factores) entre outros por enquanto, factores especulativos ou a serem pesquisados, como a constituição genética, imunização cruzada, papel do BCG, etc. Temos contra: a desnutrição ainda generalizada, cerca de 25 milhões de pessoas com HIV+, metade das quais não são tratadas, a fraqueza dos sistemas sanitários, a enorme densidade populacional e as condições de degradação dos bairros de caniço – só se pense na água! Isto sem mencionar os milhões de africanos que vivem em campos de refugiados ou em condições precárias devido a conflitos. Ninguém sabe como essa combinação de factores se apresentará. O número de casos e as mortes nos dirão quando a epidemia se vai tornar visível. Agora não é.
2. Convém ter muito cuidado com as previsões apocalípticas. Por duas vezes foram decretadas antecipadamente as últimas palavras para a África subsaariana: por ocasião da crise do SIDA, nas décadas de 80 e 90 e, mais recentemente, por ocasião da crise do Ébola, na África Ocidental. Quem se lembra, sabe que também de fontes oficiais foram espalhados números grosseiros, que não foram confirmados pelos factos. O continente não se desintegrou após ter encarado esses desafios; alguns países realmente mostraram uma capacidade de ressurgimento surpreendente (o caso do Ruanda). No que diz respeito ao SIDA, os números sofreram com o tempo uma diminuição em comparação com as projecções iniciais, talvez ditadas na época por excessivo zelo de advocacia e de indústria de ajuda humanitária. O SIDA continua sendo um fardo imenso para vários países africanos. Porém, cargas mais sérias e muitas vezes mantidas em silêncio para esses mesmos países são a dívida, a corrupção, o conflito armado, o crime organizado internacional, a inadequação das elites e o seu conluio com as multinacionais e os traficantes dos países ricos.
3. Numa fase de escuridão sobre o curso da epidemia, não devemos confiar apenas em números oficiais ou em pesquisas epidemiológicas no terreno. Neste momento, não parecem praticáveis, por mais preciosos que sejam. Até o jornalismo – o real – pode trazer elementos úteis. Por exemplo, uma morte por insuficiência respiratória por COVID-19 é um evento muito dramático. Assustador para o paciente e insustentável para os membros da família. Um aumento sensacional de “mortes respiratórias agudas” com as características que vimos na Região Lombardia, da Itália – pense-se no Hospital de Bérgamo – seria imediatamente detectado pela população (vítima) e pela comunicação social. No momento em que escrevia estas notas, não havia notícia de grupos de casos semelhantes, nem mesmo nas megacidades de Lagos, Kinshasa e Luanda. Resta ver se o mesmo raciocínio é válido nas áreas periféricas e rurais, de onde a informação chega com maior dificuldade; ou pode ser ocultada por razões políticas.
4. Também devemos recolher informações a partir dos contactos pessoais que mantemos no subcontinente: ocidentais que decidiram ficar e africanos com quem dialogamos na web por amizade e por razões profissionais. Esses são geralmente pessoas que estão no terreno com grandes capacidades de visão e análise, mesmo quando o seu horizonte é limitado aos contextos locais.
5. Até ao momento (até quando?), o impacto da epidemia em África ao sul do Saara não se deve a casos e mortes por COVID-19, mas às medidas restritivas introduzidas para controlar a infecção. Estas medidas caíram por cima de uma população que em 30% acorda de manhã diante da incerteza de poder comer ao longo do dia. Neste momento essa população vive sob grande stress, porque de um dia para outro a sua subsistência, a qual requer grande mobilidade, vem a ser questionada mais do que por medo de uma doença desconhecida, pela transmissão insidiosa e que se confunde com as outras. O mal-estar popular é, na verdade, aumentado por esse sentimento de imprecisão do quadro mórbido, pela elevada e aventada mortalidade, que no entanto agora ocorre nos países ricos; bem como pelo repentino alastramento deste problema. O perigo é que esse mal-estar exploda em formas de rebelião diante dos poderes públicos sem credibilidade, levando a formas de convulsões e rupturas sociais muito mais letais que o COVID.
6. As classes dominantes africanas, também sob forte pressão das elites urbanas (das quais fazem parte), assumiram completamente o modelo do norte do mundo para a gestão das crises, com base em medidas restritivas de intensidade gradual até o chamado bloqueio de nível 4 (África do Sul). Mas não está claro se elas avaliaram devidamente os custos sociais dessa pressão e a capacidade real de impor tudo isso, bem como a capacidade dos governos de ajudar as pessoas pobres que deveriam ficar trancadas nas suas casas aguardando que a tempestade passe. Elas também aceitaram com escasso sentido crítico a “lógica” desse modelo: retardar a progressão da epidemia para não sobrecarregar o sistema sanitário. Mas na África ao sul do Saara não existe nenhum sistema curativo capaz de lidar com uma onda de cheias de insuficiências respiratórias agudas. Como e mais do que na Europa – onde actualmente, por falta de recursos, os pacientes a serem intubados são seleccionados de acordo com as probabilidades de sucesso – qualquer pressão epidêmica terá que ser enfrentada com o atendimento domiciliar sob um regime supervisionado de automedicação. Apenas uma parte dos pacientes se beneficiará de hospitalizações prudentes, causadas por infecções e complicações de grau médio que podem ser tratadas com medidas simples de suporte. Quanto aos casos graves de pneumonia intersticial – não resta mais que o uso explícito de cuidados paliativos (sedação profunda). Não há espaço no subcontinente para a introdução massiva e a curto prazo de ventiladores e assistência respiratória invasiva. Um país como Moçambique, e não é o pior cenário, tem 34 camas de reanimação para mais de 30 milhões de habitantes. A Itália, e é um dos países que enfrenta maior dificuldade na UE, possui cerca de 5.000 para uma população dupla… isto é, possui 73 vezes maior disponibilidade desse recurso. No entanto, os melhores hospitais italianos foram esmagados pela pressão dos casos do COVID.
7. Infelizmente, a crise do COVID-19 oferece oportunidades para retrospectivas políticas. Algumas elites africanas – como no nosso hemisfério o Senhor Viktor Orbán – saudaram com júbilo alguns modelos restritivos, porque viram a possibilidade de combinar medidas de saúde pública com a mordaça à oposição e à sociedade civil. Pense-se na questão da “divulgação de notícias falsas”. Em contextos autoritários e de democracia de fachada, é relativamente fácil transformar uma recomendação ético-profissional para os jornalistas com medidas de censura e repressão para pessoas, grupos e movimentos incómodos. E ainda mais para além do âmbito do COVID-19.
8. Em vez de impor modelos, é melhor deixar ao povo africano e a aqueles que os representam o caminho para enfrentar – com o pragmatismo, os compromissos, a criatividade e a formidável resiliência que demonstraram noutros momentos – este desafio. O relativo “atraso” de muitas sociedades africanas (maior vínculo com a terra, menor dependência de tecnologia e especialização, etc.) pode ser um ponto forte nesta circunstância. Pelo menos 90% dos cidadãos da UE passariam fome se não houvesse supermercados abertos a algumas centenas de metros de casa, apenas para dar um exemplo. Onde a ajuda é possível em pouco tempo, isso é para melhorar o diagnóstico para entender o que realmente está acontecendo e proteger a equipa local, escassa e preciosa. Se o pessoal sanitário chegar a ser dizimado pela epidemia por mortes e absenteísmo, criar-se-á um círculo vicioso sem retorno. Mais tarde, poder-se-á dar uma ajuda na linha de frente e fortalecer as fileiras daqueles que prestam assistência. Mais do que a ajuda ao nível sanitário, que provavelmente será contratada após a futura recessão, a África ao sul do Saara precisará de ajuda indirecta sob forma de cancelamento de dívidas ou de novas regulamentações comerciais internacionais, que possam proteger a sua capacidade de produção e exportação.
9. Finalmente, mesmo com base na experiência italiana, não podemos esquecer a mortalidade indirecta proveniente do COVID-19. Entre nós, tumores, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais não fizeram greve de protesta por causa da chegada do vírus da cidade de Wuhan. Pelo contrário, eles são encarados em condições mais difíceis e com padrões não aceitáveis noutros tempos, desde a programação dos tempos de realização até aos procedimentos. Muitas vezes, com frustrações e dilemas morais para profissionais da saúde. Na África subsaariana o risco é de que a nova emergência absorva para si mesma todos os tipos de recursos de patologias de alta mortalidade, e – diferentemente do coronavirus – facilmente objecto de tratamento e parcialmente evitáveis: malária, infecções bacterianas, tuberculose, SIDA, patologia obstétrica, doenças evitáveis pela vacinação… Isto significa que qualquer “ajuda” – se e quando pode ser dada com os tempos difíceis à frente – deve ser dirigida para o sistema como um todo e não principalmente para a mão de ferro com o COVID. Esta, pelo menos até quando não irão chegar remédios e vacinas, vamos deixá-lo aos africanos. É bem mais robusta que a nossa.
Agradeço Maurizio Murru, Sandro Colombo, Claudio Beltramello e Marcello Vettorazzi pelas críticas e sugestões, que fiz minhas integrando-as no texto.
*Médico-Psiquiatria de Piacenza (Itália), que trabalhou em Moçambique nas décadas de 80 e 90. O texto foi publicado originalmente na revista Salute Internazionale (https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/apocalisse-a-sud-del-sahara/).
Os dados estavam actuais até 14 de Abril.












