Blog
O espinho do peixe pedra na garganta…

Os últimos momentos de Mariano Nhongo

Não pára de fumar mbangui (cannabis sativa), cultivada ali mesmo, nas montanhas. Há dois meses que não sai da cubata construída debaixo de uma gigantesca árvore, cuja copa transborda o tecto do casebre, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Está mais magro do que a última vez que apareceu na televisão, ostentando a arrogância que no fundo é uma fachada, Nhongo não tem certeza de nada.
O general está em delírio, a cada dia que passa vai perdendo descernimento. Nunca soube o que é tremer em momentos cruciais, quando em combates ferozes a vida dele tinha que triunfar, mas agora treme profundamente, tenta buscar equilíbrio no mbangui e no dolo (aguardente de frutos silvestres), porém a realidade é implacável, o homem está em derrocada. Passa as noites de pé, tentando trepar as paredes da sua casota como um lagarto desesperado. Grita chamando por Afonso Dlakama, “vamos fugir, comandante, o inimigo está aqui perto!”.
Os soldados estão com medo. Se continuarem com Nhongo serão mortos pela avalanche da tropa governamental que progride naquilo que já está parecendo uma passeata em direcção ao cume, onde um general inteiro passa a vida como um sonâmbulo, sem a verve de uma luta que não se sabe se alguma vez fez sentido. Se fugirem dos acampamentos e tentarem entregar-se, podem ser castrados. Outra ideia seria matar o general, e os seus sequazes já o viram crivado de balas para no dia seguinte aparecer novamente vivo! Mariano Nhongo é imortal!
Ontem saíu do casebre e veio cá fora reunir-se com as altas patentes do seu exército já moribundo. Incapaz de fazer algo a não ser os laivos sanguinários e injustificados nas estradas. Estava visivelmente ébrio, e os soldados temem-no quando está naquele estado. Tentou articular algumas palavras mas o que ele conseguia era balbuciar como um condenado a morte já em estado de incosciência, após a injecção letal. Mesmo assom ainda conseguiu dizer de forma clara, naquela reunião inesperada, que jamais se entregaria, “eles que me venham matar!”.
Mas o que o general diz é mentira. Nhongo está a tremer. O chão que pisa, treme também. Nas noites os mochos fogem das redondezas, já não piam nas suas sinfonias arrepiantes, e isso significa que o homem está no fim da linha, ou por cima da calçada, onde não pode cair nem para um lado, nem para o outro lado. A calçada é a dolo que bebe como um louco, e o mbangui, que lhe alucina e leva-lhe aos combates fratricidas que a história vai registar num livro lúgubre.
Os homens que formam a corte de Mariano Nhongo nem sequer têm perguntas para fazer a um búfalo ferido, que no lugar de ir contra o obstáculo, agora foge e esconde-se no dolo e na cannabis. Uma cannabis que outrora dava-lhe vigor, mas que agora definha-lhe o corpo e alma. E a mente baralhada, eu também sou ndawu como o general Dlakama, apesar de ter nascido na Zambézia! Não sou estúpido a ponto de me entregar a pessoas sem testículos. Eles sabem que não têm testículos, é por isso que querem os meus. Então que os venham buscar!
Estas são as palavras frequentes que se ouvem de um general atarantado. Amedrontado. Que caminha no escuro, sozinho. Ele já não tem dúvida sobre a guilhotina que vai descendo devagar, dando-lhe tempo para que todo o medo se materialize até as profundezas do seu ser, antes de decepa-lo. Nhongo sabe dessa espada irrversível. Perdeu a capacidade de controlar o sistema úrico. Então não lhe resta mais nada senão esperar, pelo último pio dos mochos.
A propósito dos “espiões" da Kroll
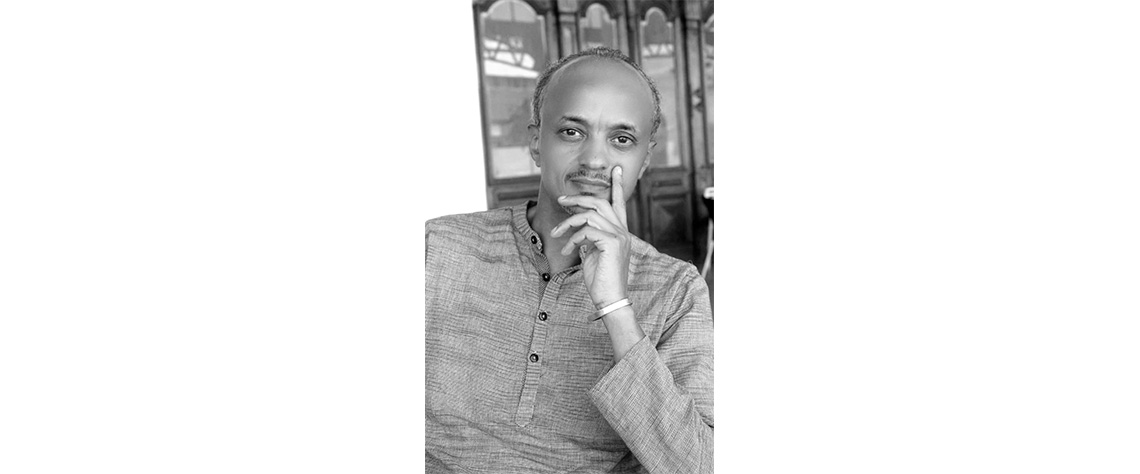
A espionagem entre os Estados, e não só, não é nenhum segredo ou informação classificada e qualquer Estado está sujeito à espionagem e Moçambique não é excepcção. Aliás, é praxe entre os Estados o reconhecimento mútuo e o estabelecimento de relações e troca de representações diplomáticas ou afins que são, para além de actividades dos respectivos objectos, também capitalizadas para as de espionagem.
Por estas terras do Índico, nos anos da resistência colonial, é sabido que Ngungunhane (1850-1906), o Imperador de Gaza teve na sua corte “embaixadores” ou oficiais de ligação que representavam a coroa portuguesa. Certamente que estes oficiais, adicionalmente às actividades no quadro das relações amistosas, também terão desempenhado outras de que mais tarde tenham sido de mais-valia para a captura de Ngungunhane e consequente desmoronamento do império de Gaza.
Nos primórdios da FRELIMO, na Tanzânia, sabe-se de um Leo Milas – um cidadão norte-americano que se dizia descendente de Moçambique e que fora um seu controverso e activo membro e com passagem na chefia de um departamento - sobre o qual recaíam suspeitas de ser um agente dos serviços secretos americanos. Em finais de 2006, Marcelino dos Santos (1929-2019), histórico membro e fundador da FRELIMO, numa reunião deste com algumas organizações da sociedade civil, confessara de que até então “não sabia como Milas fora parar na FRELIMO ”.
Nos anos 80, o país já independente, o Estado moçambicano desmantelou e apresentou em público uma rede de espionagem da CIA, a agência secreta norte-americana. Para alguns círculos esta resposta foi altamente inadequada, pois, salvo desafiar uma superpotência, e em tempos da Guerra-Fria, as autoridades nacionais terão perdido um canal para acções de contra-espionagem e ainda perdido o rasto de actividades desta agência no país.
Ainda nos anos 80 e seguintes - os tempos dos refugiados da solidariedade política internacional, dos cooperantes e os tempos da ajuda externa ao desenvolvimento - lembrar, e para citar como exemplo, que quadros destes processos chegaram, à luz do espiríto da irmandade, a desemprenharem funções, algumas de relevo, em diversos sectores e serviços quer públicos quer privados. De parte de alguns destes quadros é bem provável que tenham agido na recolha de informações à margem do interesse das “relações amistosas”.
Na senda deste breve histórico nacional vis-à-vis as incidências do julgamento das chamadas “dívidas ocultas”, ora em curso na “B.O”, um dos réus acusa de espionagem (militar) a empresa (Kroll) estrangeira contratada pelo Estado para elaborar o relatório de auditoria das citadas dívidas. Embora não se saiba da veracidade da acusação, tal procedimento – o recurso a empresas para actividades de espionagem - não é estranho para o “modus operandi” de qualquer serviço de inteligência.
Outrossim, e em jeito de fecho, aproveitar recordar que durante a II Guerra Mundial a então cidade de Lourenço Marques, hoje de Maputo, fora um palco fértil da espionagem internacional. Por essa altura, e a propósito dessa fertilidade, mas em matéria de informação doméstica, alguém comentara de que “Lourenço Marques (Maputo) é uma casa sem paredes”.
O cúmulo da hipocrisia

O colonialismo pilhou nossos recursos à exaustão. Capitais europeias foram erguidas com nossas riquezas. Sugaram os fósseis, o petróleo, alimentando suas indústrias. Retiveram nossa riqueza depositada em seus bancos por políticos corruptos. Arrastaram Moçambique para um calote sem precedentes. Poluiram o mundo e, agora que a situação está preta, negam a Moçambique o direito de explorar o seu gás. O quê? É isso mesmo! Nós não temos o direito de poluir, apenas sob certas condições.

O carvão também está em risco. Mas suas empresas andam por cá...areias pesadas, grafite, diamantes. Quem controla? A pilhagem chinesa é visivel a olho nu. A pilhagem ocidental camuflada...como no gás, com práticas de sonegacao fiscal sem paralelo. Esta manif em Glasgow contra Moçambique merece um manguito do tamanho global.
Restos mortais de um País…

Quando a funerária meteu-se no cemitério com o cadáver do país enrolado num pano branco e trancado no caixão, os soluços dos presentes começaram a espumar. Eram soluços breves que decaíam das gargantas como pequenas cascatas. O país estreava-se no cemitério depois anos e anos lutando contra um cancro da corrupção.
Um fulano qualquer, metido em uma gigante bata, com o pescoço preso por colarinho branco como uma cadela, tropeçava a vista em páginas da constituição procurando pelos cânticos da despedida. Organizava a cerimónia e, de instante a instante, chamava o povo para perguntá-lo sobre os dados do óbito; nome, data de nascimento, filiação.
O caixão foi poisado e a boca da cova com dentes bem afiados por pás aguardava para engolir os restos do país. O país estava nu no caixão, tal qual sempre andou em vida. Depois de morrer não foi preciso deslizar as pestanas dos seus olhos, o país sempre andou de olhos fechados. Os coveiros da função pública ali estavam com canhões de pás para disparar contra o cadáver do país e irem-se embora antes das quinze e trinta.
E todos queriam despedir-se do país que foi evacuado pelos pés pelo cancro da corrupção no hospital central. Os tribunais envelhecidos por processos arquivados, os ex-presidentes suportando a velhice em muletas de poder, os senhores deputados sonecando sobre o fardo das suas barrigas cheias de subsídios.
Recordo-me de ter visto todas as províncias metidas em luto e evacuando bolhas de lágrimas em lencinhos. Um bando de jornalistas, sem dó, disparava setas de flash ao caixão do país e um exército de moscas, nas bordas do caixão, afinava as antenas para roer o muco do cadáver e os restos que o cancro não conseguiu engolir.
O fulano que dirigia a cerimónia leu artigos de consolação, recitou versos do hino nacional, encheu o cemitério de cânticos e decretos de esperança e desparafusou o caixão para a última despedida; as moscas antenaram-se sobre os despojos do país. “Esse país cheira mal”, disse um ministro.
No adeus. Primeiro foram os tribunais que foram sacudir uma vénia ao caixão, depois seguiram os ministros que tentavam fermentar lágrimas, depois seguiram as forças armadas que se comprometeram a proteger com honra e coragem o túmulo do país e depois os senhores deputados saindo, um a um, do túnel da soneca foram dizer adeus ao país.
O povo foi o último a despedir-se do país. Como sempre, apresentou-se com uma camisa descosida que não escondia a enorme barriga cheia de tripas e coágulos de fome, o povo que assistiu ao cancro do país sem se importar, o povo que no lugar de correr com as receitas para curar o país, corria com boletins de voto, o povo que elegia o melhor cancro para o país. O povo chorou perante o cadáver do país, mas a cerimónia teve de continuar, porque o povo nunca fez nada para que o país continuasse vivo.
O caixão desceu à boca da cova, as pás começaram a fazer o seu trabalho e as formigas exigiram subsídio, pois não queriam devorar um cadáver que já tinha sido esvaziado pela corrupção.
“É a vida, amigo. Quem não gosta de viver?”

Corri com tralhas para entregar a um fulano que já estava com as malas prontas e as horas esgotadas para regressar a Maputo. Eram tralhas de saudades, de falta, de lágrimas que queria que ele ajeitasse-me na sua mala. Fiz tudo a correr, de modo que a caixinha de saudades fazia barulho como uma caneca num poço.
Arrastei tudo ao hotel onde se encontrava hospedado o fulano. O recepcionista, antes mesmo de cumprimenta-lo, desviou-me pelo indicador ao elevador. Era um tipo alto que tapava o bocal do telefone equilibrado ao ombro para fazer registos de datas num papel. “Reserva para o fim do ano, dois casais”. Tinha uma marca viva de aliança no dedo, talvez fosse divorciado, talvez a sua mulher tal como eu arrastou as malas e foi-se embora com um outro homem.
O quarto do fulano que partia estava no quarto andar. O elevador ressonou, dois alemães de cabeças plantadas no telhado do elevador, como futebolistas entoando hino nacional, ordenaram ao elevador que avançasse. Fiquei ali plantado e vendo pelos números, o elevador cavando sem parar o prédio: -1, -2, -3. De que ossos é feito a coluna dos elevadores, meu Deus?
Esperei pelo segundo corredor. As empregadas do hotel surgiam das pontas, como larvas, conduzindo gruas e camiões carregados de entulho de lençóis sujos e mantas com cheiro azedo dos turistas. As empregas surgiam com as mãos enterradas nos aventais e sobre os tapetes dos corredores não davam, levitavam sem nenhum ruído. O elevador novamente chegou a mim, arrastei as tralhas e entrei.
E no elevador estava o senhor ministro; ao seu colo estava deitada uma mulata, de cabeça murcha. De quando em quando, miavam-se palavras e o senhor ministro imigrava as mãos ao sutiã da mulata. Os beijos eram carregados de litros de saliva, dentro desses beijos era possível ouvir as suas línguas nadando como objectos afogados.
Era ele, o senhor ministro do meu país. A mulata, que tinhas as bochechas do rabo nas mãos do senhor ministro, a dado momento disse: “olha que o tempo já começou a contar aqui, querido”. E o senhor ministro ria-se sem parar e, quando parava, mexia o bolso e explodia mais um beijo na mulata. “Sabes que isso é meu trabalho, querido”, miava a mulata de mão estendida para receber as notas…
Chegamos ao sexto andar, puxei as tralhas, eles seguiam até ao nono. Baixei a máscara e disse no último segundo quando a porta do elevador juntava-se em jeito de beijo como eles: “bom proveito, senhor ministro da minha terra”. Dois minutos depois, quando tentava achar o quarto do fulano, vi o senhor ministro atrás de mim. “É o senhor jornalista, não é?”. E eu já sabia que o senhor ministro andava por cá, pois não tinha dado a cara no último conselho de ministros e sabia que o seu gabinete, em Maputo, andava selado.
O senhor ministro olhou-me como uma criança aflita num miolo de pão.
Molhou os lábios com o pincel da língua e novamente cuspiu-me na cara: “É o senhor jornalista, não é?”; depois fez um discurso longo e no fim tirou 200 euros e disse-me “é a vida, amigo. Quem não gosta de viver?”.










