Blog
África – Entre os fantasmas do passado e as Incertezas do amanhã: Um percurso histórico-filosófico e político Ι por Hélio Guiliche

África, a história consagrou-te como sendo o “Berço da Humanidade” e, paradoxalmente hoje te consideram “o novo continente”. Mas não é sobre este paradoxo que aqui pretendo dissertar. É a história que testemunhou desde muito cedo a apetência das potências imperialistas ávidas em explorar os seus recursos, o seu povo e toda uma riqueza que humana, cultural e intelectual.
É sem sombra de dúvidas um continente bafejado pela existência de enormes quantidades de recursos naturais que foram inicialmente vistos como uma bênção mas que muito cedo se tornaram numa maldição que adia o desenvolvimento pleno do continente. Esta maldição traduzida em guerras, genocídios, corrupção, má governação que perpetua a fome, a miséria, as desigualdades entre o povo e adia o grito de liberdade total e completa que tanto almejamos.
Foram mais de 500 anos de uma colonização que quase tudo tirou do chamado “novo continente”. 500 anos de uma epopeia imperialista desenhada e implementada pelo Ocidente e que iniciou com a procura de matéria prima para a incipiente indústria europeia e procura de novos mercados. Com a narrativa das supostas viagens dos descobrimentos a geografia mundial ganhou outra dimensão económica, religiosa, cultural e humana – a hegemonia do norte para o sul foi cimentada e o mundo passou a ser dominado pela palavra civilização que era apanágio do Ocidente imperialista. Seguiu-se ocupação efectiva e partilha de África decidida na célebre Conferência de Berlin onde o continente negro foi dividido em fatias e suas fronteiras redesenhadas ao sabor das potências capitalistas.
A ocupação e exploração de África não respeitou a dignidade da pessoa humana – na verdade ela violou os direitos fundamentais do homem e mostrou uma face arrogante e prepotente do homem branco que escravizou e desumanizou o homem negro; Não se preocupou com a cultura, com a religião nem com a ontologia do africano. Diga-se em viva voz que a escravatura foi um dos actos mais vis, desumanos e vergonhosos que o Ocidente carrega consigo até os dias de hoje. Milhões de homens foram levados em navios cargueiros, do seu habitat original e retirados das suas terras com destino incerto dentro do próprio continente negro, para América do Norte, do Sul (concretamente no Brasil), e espalhados pelas Antilhas Francesas e protectorados Ingleses para os campos de cultivo de cacau, cana-de-açucar, borracha, e outras matérias primas para alimentar a indústria e a economia ocidental.
Em nome da civilização, povos foram separados e culturas foram destruídas; novos hábitos, costumes e maneiras foram instituídas – desafiando o africano a negar sua origem, a envergonhar-se da sua cultura e a declinar seus traços identitários; O novo africano deveria ser instruído para poder fazer parte do mundo dito civilizado.
A civilização permitiu a instrução, a escolaridade e o acesso a um pensar mais elaborado, mais crítico e reflexivo. Um pensar interventivo, mais comprometido com a causa africana e com o direito a autodeterminação. Surge a primeira nata intelectual de afrodescendentes e africanos da diáspora com ideias claras sobre a libertação e independências de África.
Eis que na década 50 dos anos 1900, como corolário da segunda Grande Guerra, assistimos ao retorno dos filhos da terra que ensaiaram os primeiros modelos de independências do continente africano. Ainda que de forma incipiente e tímida, a pesada herança da negritude e do pan-africanismo de primeira geração empurrava a nata pensante à tão sonhada e desejada acção outrora sugerida no célebre Congresso Pan Africano realizado em Manchester em que George Padmore com a famosa afirmação – “É altura de passarmos da teoria à prática”. A partir de 1960 assistimos a uma saga independentista que culminou com a libertação de vários países africanos no jugo colonial, incluindo Moçambique e Angola (duas ex colónias Portuguesas alvo de cobiça durante a Conferência de Berlin e resultado do audacioso Mapa cor rosa).
Uma intelectualidade genuinamente africana e altamente comprometida com os ideais do pan-africanismo, da negritude, do renascimento negro e do empoderamento negro, representada por Kwame Nkrummah, Leopold Senghor, Jomo Kenyata, Ahmed Sekou Touré e mais tarde por Julius Nyerere, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Samora Machel e outros proeminentes lideres, fez eco ao sonho de Marcus Garvey, Malcom X, Luther King, William Du Bois, Aimé Cesaire e outros notáveis teóricos, e fez-nos acreditar que o sonho da autodeterminação podia ser real. A conquista das independências significou muito para os africanos, e gerou uma euforia e expectativa enorme em torno presente e do futuro.
Severino Ngoenha (in Das Independências às Liberdades), num rasgo filosófico-político em que se discorre o processo de legitimação e apropriação da Filosofia pelos africanos tendo como base a racionalidade do africano, passando pelo processo de conquista das independências em África e culminando com uma crítica mais elaborada pela corrente hermenêutica, analisa os ganhos, as perdas e os desafios destas independências. As independências africanas, a meu ver criaram menos liberdade e mais asfixia aos povos. Mudaram-se os actores coloniais e passaram a ser perpetradas atrocidades entre africanos. Vivemos um pouco de tudo, mas não conhecemos o sabor da liberdade.
É de todo inegável a dimensão psicológica que a saga independentista da década 60 causou no povo africano; Houve uma exacerbada expectativa em torno dos países recém independentes e ensaios embrionários de autogoverno, autodeterminação e muitas dúvidas sobre a real capacidade dos estados africanos vingarem na ausência do colono. Os perigos do neocolonialismo muito cedo se fizeram visíveis e em poucos anos muitos países africanos estavam sob graves conflitos internos e guerras civis que devastaram sobremaneira a ainda débil estrutura estatal. Os anos que se seguiram as tão almejadas independências, foram anos de solidificação das ideias nacionalistas, mas também foram anos em que assistiram-se a de conflitos internos nos estados, guerras devastadoras, genocídios e destruição sem precedentes.
Conquistamos as independências mas não conseguimos construir estados capazes de se auto-governarem. E quando conseguimos ensaiar a ideia de um estado fomos muito cedo abafados e aniquilados.
A velha fórmula romana – divide et impera – (dividir para reinar) foi usada para fragmentar ainda mais os estados e abrir as portas ao neocolonialismo na sua versão de ajuda externa e construção da democracia em África. Uma democracia diga-se desajustada ao modelo africano e de certa forma forçada e imposta pelos senhores de Bretton Woods para estados em claras dificuldades económicas. A pressão externa, a situação económica frágil e algumas sanções e interferências externas, abriram uma nova página na relação África e o mundo.
Entre o servilismo a Bretton Wood e a nova Rota da Seda
Gorada a tentativa de ter independências totais e completas, onde nem politica nem economicamente conseguimos ter uma solidez e robustez que permitisse o crescimento e desenvolvimento alicerçados no sonho integrado do pan-africanismo, pouco ou nada restava a África a não ser aderir às Instituições de Bretton Woods e beneficiar-se de empréstimos financeiros, políticas de restruturação económica, e toda gama de ajuda externa provida pelo Ocidente.
Volvido mais de meio século após a conquista das independências, a nova relação entre África e o mundo é basicamente assente na concessão de recursos abundantes em África à multinacionais do ramo extractivo – e África voltara a ser pilhada novamente, mas de forma mais assaz e agora com consentimento dos seus líderes que a pela sua ambição individual e a troco de muito pouco, perpetuam os corredores da corrupção, do nepotismo e da má governação que por cadeia estão atrelados a pobreza extrema, fome generalizada, doenças, péssima qualidade de educação e saúde.
África continua a despertar a apetência das multinacionais ocidentais que lucram com a exploração do recursos, fragilizam a nossa economia com falsos incentivos e adiam o “take off” do nosso continente.
Com a emergência e afirmação no panorama mundial do gigante asiático – a China – com o seu ambicioso projecto denominado “A Nova Rota da Seda”, África entra uma vez mais na equação. A China está presente nos cinco continentes e investiu cerca de US$ 1,9 trilhão. Isso equivale, por exemplo, a 13 vezes o valor do Plano Marshall, utilizado pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa durante a guerra fria.
Governos altamente endividados, economias super dependentes da ajuda externa, e estados quase capturados tanto pelo FMI e Banco Mundial, ponderam piscar os olhos a China e entrar na chamada rota, hipotecando uma vez mais os sonhos de milhões de africanos. O capitalismo selvagem ocidental e o comunismo mascarado de Pequim fazem a partilha dos recursos de África e nós africanos uma vez mais apenas lamentaremos e nos socorreremos na famosa teoria da maldição de recursos.
Os recursos em si não são uma maldição mas também não são uma bênção quando mal explorados; Quando explorados de forma não integrada e não planificada eles podem ser a causa de guerras e instabilidade de vária ordem.
No geral os modelos de governação que adoptamos, as políticas económicas e sociais que desenhamos tem se mostrado pouco ajustadas às realidades dos nossos países.
Celebramos mais um aniversário de um continente africano. Mais um aniversário debaixo de lamentações. Mais um aniversário em que os traumas do ontem geraram o medo do hoje se sobrepõem a esperança do amanhã. Em África o amanhã mete medo porque nunca sabemos se ele chegará, e se chegar não sabemos como encará-lo porque não o planificamos. E os anos vão passar, as gerações vão se renovar, mas se a nossa mentalidade continuar a mesma, o nosso continente continuará a ser o que sempre foi – um palco onde todos dançam menos os donos da casa.
E chega de procurar culpados lá fora para a nossa fraca prestação. Os culpados somos nós e nós sabemos o que deve ser feito para que África seja aquele lugar em que reine a paz, a prosperidade, a harmonia, onde a autodeterminação é respeitada, onde os valores, as línguas, as tradições, as religiões e todo mosaico étnico e cultural façam parte do rendez-vous das nações.
Por Hélio Guiliche (Filósofo _ Docente Universitário)
"Os Nhangumeles do Índico"... e outras marcas

Hoje acordei disposto para concordar com a proposta apadrinhada por Sua Excelência Gilberto Mendes. Sou obrigado a concordar com ele porque, em primeiro lugar, de facto, temos de encontrar um nome para a nossa seleção nacional de futebol que se identifique connosco neste preciso momento. A ideia é termos um nome que, quando as pessoas ouvirem pelo mundo fora, não duvidem que se trata de Moçambique. Portanto, um nome que não crie confusão nas pessoas. Uma marca nacional. Aquilo que nós somos e como somos conhecidos além fronteiras.
Em segundo lugar, como defende o meu caro ilustre amigo camarada Secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, é preciso termos um nome que vende. Também concordo! Temos de encontrar um nome que não precisa de marketing, um nome que se vende sozinho. Deve ser um daqueles nomes que qualquer um que ouve diga "uau, eu quero isso para mim". Daqueles nomes que qualquer empresário quererá associar à sua marca. Deve ser um nome único.
Também concordo, em terceiro lugar, que temos de encontrar nome de um animal que nos orgulhe. De acordo com o próprio Sua Excelência, um animal que esteja em extinção e, por isso, protegido. A ideia é que seja um animal que estimamos muito, mas que não existe em abundância em outros países. Bravo, Excelência! É uma questão de concorrência: menor oferta, maior procura. Até acho que Samuelson e Nhordaus falam disso na economia. Estou a gostar dos livros que Sua Excelência está a ler.
Não podemos esquecer que estes são outros tempos. "Mambas" está ultrapassado e dá azar. Por isso, libertemo-nos das amarras! Temos de ter nome de uma coisa moderna e sortuda. Uma coisa de hoje. Um nome que encerra em si um significado positivo. Talvez esteja aqui o problema de Cabo Delgado: o nome. É que "cabo" é a ponta por onde se segura um utensílio (cabo de vassoura) e, em Geografia, "cabo" é um acidente geográfico. E "delgado" significa fino. Então, esse nome só pode ser de azar mesmo. Cabo Delgado lembra a ponta do tridente do capeta ou, então, um terreno estreito onde acontecem muitos acidentes. Se mudarmos o nome, talvez os insurgentes desapareçam sozinhos e a vida volte a normalidade.
Para a nossa seleção nacional de futebol, estou aqui a pensar num nome que dá a ideia de patriotismo, modernidade, autenticidade, bravura, sagacidade, vitória e marca. Sua Excelência Gilberto, que tal, "Os Nhangumeles do Índico". "Os Gatunos Vermelhos". "Os Changs Insaciáveis". "Os Fiadores Ocultos". "O Tabuleiro Intocável". "Os Codificados". "Os Estimados da Pátria. "Os Sem Vaselina". Os Enfiadores da Pérola". "Os Ladrões Indomáveis". Sei lá!!!
Ajudem aí, pessoal! É uma campanha de procura do nome da sorte para esta geração. Tem de ser um nome que nos leve direto ao Mundial. Um nome que, só no aquecimento, o adversário e a equipe de arbitragem começam a tremer. Um nome que o placard vai marcar três à zero enquanto ainda estamos a equipar. Vamos jogando só por questões de elegância e ética desportiva. Vamos levando as taças e as medalhas um dia antes do jogo. Tem de ser um nome que até o vídeo-árbitro vai mostrar os lances antes do jogo iniciar. Um nome que vai nos levar a disputar o EURO e a Copa América. Um nome que vai fazer com que Moçambique seja a sede da FIFA e Feizal, presidente. Um nome que vai fazer com que Messi e Ronaldo venham viver aqui. Um nome de guerra bonito, que vende. Um nome muito nosso. Uma marca.
Então, fica a dica: se tiveres um filho drogado e que não gosta de estudar, faz nova cédula com novo nome; se o teu Toyota-Starlet anda avariado, pinte-o com outra cor e escreva "Lamborghini" na traseira; se a tua vida vai mal, faz novo BI, irmão... com outro nome, evidentemente. O segredo da felicidade está no nome, é o senhor Carlos que assim o diz. Só ele mesmo para trazer o lado cómico da nossa trágica desgraça! Nossa senhora das piadas, rogai por nós!
- Co'licença!
Patrão, compra garoupa!

Ir ao mercado da Mafurreira nas manhãs fazer compras, já se tornou um vício, e isso dá-me um enorme prazer. É um exercício quase de instinto, que me restabelece as emoções, e ajuda-me a não sentir o escorrer do tempo, que por vezes demora passar sobretudo quando estou sozinho, sem que esteja a escrever, ou a dedilhar a guitarra emprestada. É também uma dádiva, no sentido de que regresso sempre à casa com a alma cheia, pelas conversas esporádicas que vou ter aqui e ali, com as vendedeiras que, ao verem-me, vão dizer logo, sorrindo, pari yangu! (amigo!). E eu exulto pela saudação tão sincera. Simples. Profunda.
Ainda ontem desci àquele lugar que também é meu. Ou seja, eu sou uma das pétalas desta flor cheia de feridas que podem estar a gangrenar. Flor é todo o mercado, que mesmo sendo pequeno na sua geografia, é o maior da cidade de Inhambane. Pétalas são estas mulheres cujo sonho metamorfoseou-se para dar lugar ao conformismo e a incerteza. Elas já não esperam, são aquelas por quem as crianças esperam em casa com a barriga vazia. Uma barriga que pode não ser saciada porque ninguém comprou nada. O marisco apodreceu.
Mas todo este cenário parece sombrio, pois se não fosse, então teriamos ali uma tagarelice de não acabar, e isso não está a acontecer. Há um silêncio dorido, cheio de desesperança, porque ninguém compra nada. Elas já perceberam que não há dinheiro. Ninguém o tem. Porém, não saiem das bancas, onde ruminam todos os dias os seus desesperos. Perderam a vontade de apelar aos potenciais clientes – que vão passando - para comprar qualquer coisa. Ninguém as liga. E não encontram outra saída que não seja a de aceitar a humilhação de estar ali a boair.
Ontem eu queria comprar alface para acompanhar o meu chá. Contei rigorosamente as moedas, e o valor servia “in extremis” para as minhas necessidades limitadas, que se resumem na alface, tomate, cebola e pão. As outras propostas estavam longe de mim, não que eu não goste de um bom camarão, de uma boa lula e das garoupinhas brilhantes que me enchem os olhos nesta banca à minha frente. Mas não há nada a fazer, com o bolso descompensado, senão apenas sonhar com as referidas garoupinhas grelhadas, acompanhadas com batata cozida, pimento assado na brasa e etc.. Porém, todo este meu derretimento não passa da imaginação. Aliás, a aquisição daquele tipo de peixe, é uma empreitada para grandes engenheiros, e eu sou apenas um mirone, que vai enchendo o estômago de baba.
Ela olha para mim, sem parar de sacudir as moscas que vão sobreavoando o peixe acabadinho de sair do mar e diz, patrão, compra garoupa, é fresca! Na verdade é uma tentação irresistível, todavia distante para as minhas capacidades. Aliás, foi por conhecer as fraquezas da minha tesouraia, que nem sequer perguntei o preço. Limitei-me a imitar o macaco que, de tanto insistir em saltar par arrancar as uvas, sem nada conseguir, acabou dizendo que não as arrancou porque estavam podres, e eu disse a senhora que não como garoupa.
Intruso Voador

A debilidade luminosa era por conta do crepúsculo vespertino por isso muitos aldeãos regressavam de seus afazeres quando repentinamente, dos céus, um zumbido alterou a constância sonora habitual e um piscar intermitente de cor vermelha capturava toda a atenção dos autóctones da aldeia do posto administrativo de Muene, província da Zambézia.
Despoletou-se um tumulto na aldeia com os habitantes seguindo o voo do objecto voador não identificado.
Múltiplos juízos eram emanados da boca dos populares ante o estranho voador que ocupava o céu da sua terra.
O maioral da aldeia foi comunicado da presença do intruso aéreo que sobrevoava a cabeça dos seus súbditos criando pânico entre estes. Expediu a devida ordem e o monitoramento foi seguido pelos seus ajudantes de campo.
Não demoraram para convocar o maior atirador para seguir o trajecto do estranho objecto, este embarcou na perseguição armado de seu instrumento de caça.
O sonido da diminuta aeronave fazia-se sentir com maior intensidade e a luz descontínua riscava o céu azul do território.
Um dos ajudantes do campo apresentou-se ante o régulo e reportou o que testemunhavam no terreno.
- Derrubem imediatamente esse engenho voador! - asseverou convicto Carlos Mabassa, o líder. O assessor, dali emitiu um assovio comunicando os que seguiam na vanguarda das ordens dadas pelo régulo.
Descodificado a ordem pelo segundo ajudante de campo que seguia na dianteira da perseguição, este passou a autorização para o fisgador.
Processada a ordem, o caçador interrompeu a correria e parou, fincou o pé esquerdo descalço no solo e o direito ligeiramente um pouco atrás, empunhou a sua arma de arremesso já com a bala no receptáculo, aldeãos ladearam-no, o atirador esticou o seu instrumento de caça até perder toda a elasticidade, mirou o obejcto a ser abatido e disparou, a bala percorreu em movimento rectilíneo uniforme a uma velocidade de vinte cinco metros por segundo atingindo uma das hélices da pequena aeronave, esta perdeu momentaneamente a estabilidade aerodinâmica, o piloto tentou equilibra-la ao mesmo tempo que o segundo tiro alcançava a segunda hélice, toda a estabilidade foi pelos ares e o obejcto voador iniciou o seu processo de despenhamento.
Um hurra colectivo enalteceu a pontaria do caçador de Muene e a celebração atingiu o auge quando os populares alcançaram o local com os destroços do objecto abatido.
O ajudante mor recolheu os destroços com ajuda de seus conterrâneos e todos foram ao encontro do régulo.
O operador do veiculo voador perdeu o controlo remoto quando este desapareceu da tela, eram precisamente 16h45, registou as coordenadas do último contacto estabelecido com a pequena aeronave e de seguida reportou ao seu superior. O chefe prontamente autorizou as buscas que se efectuaram juntamente com as autoridades administrativas da região.
O operador de voo e seu colega juntaram-se ao chefe do posto e mostraram para este no mapa o local onde o aparelho tinha desaparecido.
Logo que o chefe do posto reconheceu o local da queda embarcaram em duas motas todo terreno e dirigiram-se a aldeia de Muene.
Batuques mesclados com a vozearia popular davam ritmo as averiguações feitas pelo régulo e seus conselheiros. Os destroços da aeronave eram circundados pelos aldeãos que não arredavam pé.
Um homem ligeiramente mais baixo no segundo círculo, espreitou por cima do ombro do outro e então pode ver distintamente o estranho obejcto.
- É isso que chupa nosso sangue! – gritou convicto o homem e não demorou para ganhar um coro concordante.
- Chupa sangue, chupa sangue. – gritavam eufóricos os aldeãos.
Ficou activado uma vontade popular de vingança contra todos os militantes daquela actividade maligna.
O som das motorizadas foi entibiado pelo brado dos aldeãos e não demoraram para alcançar o cerne das contestações.
O chefe do posto de Muene abordou o régulo e apresentou os seus acompanhantes.
- Estes são do INGC – introduziu-os ao régulo.
- Este é o nosso drone. - reconheceu prontamente Anselmo o operador.
- Então são estes que nos chupam sangue. – vociferou um dos aldeãos.
Despoletou-se instantaneamente um tumulto com os aldeãos segurando Anselmo pelos colarinhos enquanto outros efectuavam o devido julgamento, a autoridade do régulo e do seu conselho não se fazia sentir.
O colega de Anselmo quando se apercebeu do pandemónio saltou para a garupa da sua motorizada e partiu de rompante do local deixando o seu colega entregue a sua própria sorte.
O chefe do posto intercedia junto do régulo para libertar o funcionário do INGC que afinal apuravam os melhores locais para o reassentamento dos aldeãos de Muene que muitas vezes eram vítimas das cheias.
Mas estas alegações não serviram para conseguir libertar o homem que era severamente punido pelos aldeãos que ora esbofeteavam, ora esmurravam-no.
Quando o chefe do posto percebeu que as suas autoridades não salvariam o funcionário do INGC, decidiu chamar pelo comandante da polícia de Muene.
Tiros foram disparados para dispersar a população e libertar Anselmo do severo castigo que sofria.
Pendências (da Defesa) da Independência
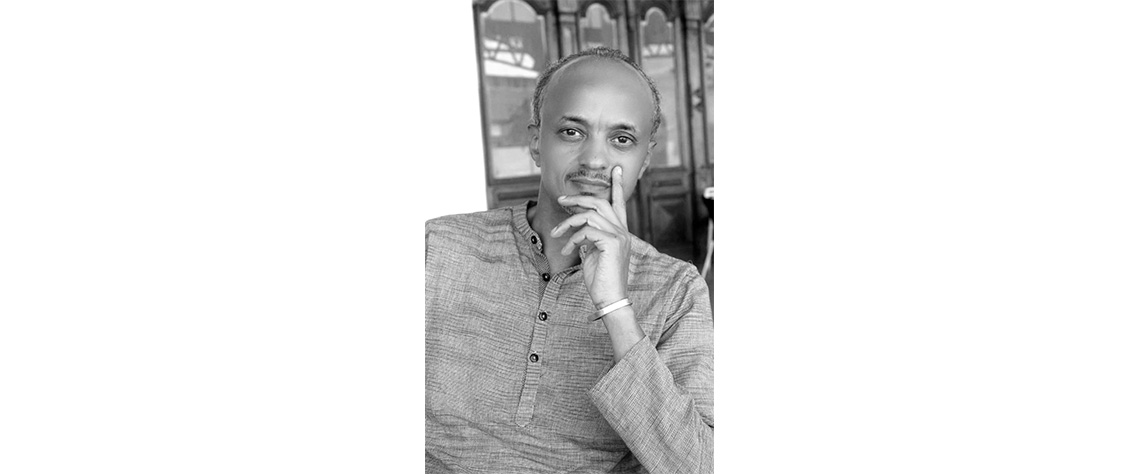
Os Estados nunca estão completamente em paz, e nunca devem assumir que o estejam, tanto é que se afirma que a paz não passa de um intervalo entre duas guerras, justificando, por isso, a necessidade constante de Defesa. E porque a Defesa, sobretudo a de rechaçar hostilidades e proporcionar a segurança territorial e do cidadão, é uma prioridade de qualquer Estado que se preze, exige, em princípio, que o cidadão seja envolvido na respeitante estratégia nacional de Defesa quer na sua execução quer na sua reflexão, sendo esta, igualmente, uma sagrada e honrosa forma de cidadania.
Ora, em linha com o dito e em jeito de estímulo para outras e profundas reflexões por entendidos e não só, inicio a minha e curta reflexão, debruçando à superfície sobre algumas pendências (da Defesa) da independência (celebração à porta) tais como o domínio efectivo do território nacional; o tamanho (e tipo) das Forças Armadas; o anel de segurança fronteiriço; a capacidade e sustentabilidade das Forças Armadas; e o interesse nacional. Por último, e por força acrescida do actual quadro de hostilidades que assolam o país, encerro com a perene necessidade de mudança e afirmação das políticas públicas nacionais na resolução destas e outras pendências que minam a segurança territorial e a do cidadão.
Sobre a pendência do domínio efectivo do território chamado Moçambique, Portugal, o país colonizador, passou o poder, às novas autoridades de Moçambique independente, sem que antes o tivesse efectivamente ocupado. Depois da independência não se consta uma forte determinação do Estado moçambicano nesse sentido e por isso, quanto a conquista total e completa da independência, é válido o questionamento se a independência foi ou não traduzida na posse e controle de cada centímetro de Moçambique. Deste modo, conferir as estratégias de ordem militar e civil que o poder colonial desenvolvia ou previa desenvolver é crucial e um bom começo para uma reflexão.
Quanto ao tamanho das Forças Armadas, uma pendência que decorre do AGP (Acordo Geral de Paz) de 1992, que, em tempos de multipartidarismo, impunha a formação de novas Forças Armadas de 30 mil efectivos, sendo 15 mil de cada uma das duas partes signatárias é um assunto que já foi motivo de acesos debates cujo cerne – o efectivo e o respectivo preenchimento – carecera que se soubesse antes que tipo de Forças Armadas, afinal, se tratava. Uma reflexão adiada, mas do debate ficara a deixa, por exemplo, de que um território tão vasto e com as características geográficas de Moçambique a sua primeira linha de Defesa de não podia e nem devia ser o Exército (forças terrestres).
No que concerne ao anel de segurança fronteiriço e para melhor percepção se avançam dois exemplos. O primeiro aponta que do lado da fronteira moçambicana, o anel de segurança da estratégia de Defesa da África do Sul e sobre o qual (supostamente) decorrem simulações de segurança, prolonga-se até ao distrito de Vilanculos (Inhambane), mormente o Oceano Índico. O segundo que cita o então e falecido Presidente francês Jacques Chirac, lembrando às autoridades moçambicanas de que a fronteira de Moçambique à leste era a França e não o Oceano Índico. Dois exemplos, uma pergunta: as fronteiras de defesa estratégica de Moçambique são, porventura, coincidentes com as dos limites geográficos?
É expectável que as Forças Armadas de qualquer Estado tenham a devida preparação, prontidão e em plantão. Nesta linha, fora as simulações e operações reais de guerra, elas participam, além-fronteiras, em situações de assistência em casos de calamidades naturais, operações de paz e similares cuja intervenção constitui uma oportunidade de demonstração de forças. Decerto um ponto pendente e para reflexão, começando pela capacidade de operação e sustentabilidade doméstica das Forças Armadas moçambicanas cujos desafios e do país, em geral, e uma vez que as Forças Armadas demandam uma série produtos e serviços, em qualidade e quantidade, e com proveito para a economia nacional, deviam impulsionar e depender de uma robusta e crescente indústria nacional.
Decorrente das linhas precedentes, um outro ponto é o interesse nacional cujas Forças Armadas constituem uma das guardiãs, sobretudo no concerto das nações. Em Moçambique, incluindo no seio dos principais órgãos de gestão do Estado, não se sabe até que ponto existe um consenso ou mesmo um conhecimento sobre o interesse nacional, enquanto conceito e enquanto conteúdo do Estado moçambicano. A sua reflexão ainda impõe-se por ser um factor estratégico de mobilização da sociedade quer para a Defesa do Estado quer para o seu próprio desenvolvimento económico e social.
A Defesa, nas últimas décadas, nunca foi uma prioridade de investimento, em parte, entre outros, por culpa de certos condicionalismos de prescrições no quadro da ajuda externa aos países pobres, incluindo Moçambique, abraços com sérios problemas de financiamento das suas despesas. Hoje, diante de uma nova, complexa e difusa conjuntura quer a do sistema internacional quer a interna de muitos dos Estados receptores da ajuda, tal situação – falta de investimento na Defesa - já não faz sentido, se é que algum dia o fez. Ademais, e em tempos de instabilidade nacional e com incidência para os conflitos nas zonas centro e norte de Moçambique, do que valem os esforços e a esperança de desenvolvimento se num piscar de olhos as conquistas podem descambar?
Certamente, concluindo e sem esgotar, urge que se priorize e se invista na Defesa. Nesta perspectiva, corrobora o pronunciamento recente do titular da pasta de economia e finanças de Moçambique que, sobre o qual, é passível, e muito bem, de ser encarado como um sinal de uma nova abordagem em matéria de políticas públicas, tendo a Defesa, por exemplo, como um factor que aglutine valências, restando ao Estado, para que isso aconteça, fazer o que lhe compete. E uma das coisas, e imprescindível, sobre a Defesa, é a sua abertura ao debate com a sociedade e disso, em conjunto, as partes possam de forma contínua, larga e profunda, reflectir as listadas e outras pendências e desafios cujo resultado combine discurso (persuasão) e pulso militar (dissuasão). A metade – apenas o discurso - é dispensável para os desígnios da independência de Moçambique.
P.S: Faz amanhã, 27 de Maio, 52 semanas desde a publicação do meu primeiro texto neste jornal. Um impulso para um depoimento em jeito de homenagem pelos 90 anos de Marcelino dos Santos (Por onde andas Kalungano?) foi o rastilho para os que se seguiram. Hoje publico o 64º texto. No mês de Junho farei uma pausa, tendo apenas programado duas publicações e por ocasião dos festejos de Eduardo Mondlane (20 de Junho) e da independência de Moçambique (25 de Junho). De forma regular/semanal, voltarei na primeira semana de Julho e no primeiro texto a devida nota sobre o que se espera nas 52 semanas seguintes. Um abraço e até já.
Uma Comissão de Censura para o Gustavo Mavie

O melhor argumento que eu usaria, se estivesse no lugar do Gustavo Mavie, era evitar ser juiz em causa própria. Eu, eu, eu, eu... Aqui não tem Ética, não! Perante a catadupa de críticas que ele vai recebendo, desabonando sua escolha para a Comissão de Ética, Mavie continua sua campanha “eleitoral”, tentando vender seus atributos de “patriotismo, competência e resiliência”. Melhor seria permanecer calado, e deixar esse trabalho para seus amigos, que têm-no feito com unhas e dentes.
A conversa sobre sua inaptidão para a Comissão de Ética baseia-se numa alegada má gestão da AIM, quando ele era director lá, aparentemente julgada pelo TA. Mas o melhor argumento para se desconstruir sua postura anti-ética não está aqui (estes relatórios de inspecção e auditorias são manipuláveis e falíveis).
A melhor fonte de aferição da postura anti-ética do Gustavo Mavie são os seus escritos. Seus lençóis de texto onde ataca e insulta quem tem pensamento crítico sobre o rumo da sociedade [recentemente meteu-se com os sociólogos Patrício Langa e Elísio Macamo; Langa propôs um debate sobre Poder e Ensino Superior; Gustavo acusou-lhe de estar a atacar o regime do dia: o debate morreu em decorrência dessa sua desonestidade intelectual].
Façam-lhe uma análise de conteúdo e vão descobrir uma personalidade barricada na vingança, panfletária, muitas vezes defendendo o indefensável, forçando argumentos com suas citações rebuscadas, para dar um ar de cientificidade. Um puro “loose cannon”, atirando contra tudo e todos que pretendam debater o rumo de Moçambique. Ele é o anti-debate em pessoa, parecendo mais Frelimo que qualquer um.
A Comissão de Ética é para ser preenchida por figuras que, mesmo sendo militantes, demonstraram uma postura pública equilibrada, em defesa da verdade, da razão, da Lei; figuras com uma dose de respeitabilidade na opinião pública, por suas intervenções honestas. Gustavo Mavie não encaixa nisso. Ele é um bom comissário político. Ele funcionaria melhor numa Comissão de Censura.(Carta)











